Significados e tendências da economia solidária
Luiz Inácio Gaiger[1]
Professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e coordenador da pesquisa (e-mail: gaiger@helios.unisinos.br). Colaboraram com esse texto, de forma direta, os responsáveis pelos relatórios parciais de alguns estados: Aécio Alves de Oliveira (Ceará) e Ana Mercedez Sarria Icaza (Rio Grande do Sul). Agradeço a eles, às suas equipes e aos demais membros do GT da Unitrabalho.
Para quem observa com atenção e interesse a realidade sociaL do país, é cada vez mais perceptível o crescimento e a expansão das iniciativas populares de geração de trabalho e renda, baseadas na livre associação de trabalhadores e nos princípios de autogestão e cooperação. O termo economia popular solidária, utilizado para designar esse novo fenômeno, encobre uma realidade bastante diversificada e suscita um conjunto importante de questões teóricas e políticas.
Sabe-se, por exemplo, que as atividades econômicas desses empreendimentos abrangem diferentes setores produtivos, envolvem categorias sociais as mais diversas – muitas vezes mescladas – e comportam distintas formas de organização: de grupos informais e pequenas associações a cooperativas e empresas de médio e pequeno porte. Além disso, suas origens repousam ás vezes em laços familiares ou vínculos comunitários de longa tradição, enquanto há casos em que se formaram pela luta coletiva de operários e de trabalhadores rurais, dentro de mobilizações mais amplas e de clara conotação política.
É suficiente lembrarmos das inúmeras associações rurais espalhadas em varias regiões do país, da multiplicação dos grupos coletivos de produção nos assentamentos da reforma agrária ou, ainda, das dezenas de empresas autogestionárias, formadas pelos trabalhadores anteriormente empregados em empresas que entraram em falência.
Não é de hoje que o solidarismo econômico é utilizado como recurso pelos trabalhadores. Formas comunitárias e autogestionárias de organizar a produção e o consumo existem há bastante tempo. No entanto, o que se percebe atualmente é que poderíamos estar diante da germinação de formas de economia alternativa , por se distinguirem da lógica mercantil capitalista, e de alternativas econômicas para os trabalhadores, por se tratarem de empreendimentos variáveis, ou seja, capazes de assegurar sua auto-sustentação e sua perdurância social.
Realidades novas, dentro de conjunturas em que se torna premente encontrar opções para o futuro dos trabalhadores, podem ser enganosamente sedutoras e levar a uma visão excessivamente otimista. Mais do que nunca, é necessário prudência e cautela, no sentido de conhecermos melhor os fatos e então, propor hipóteses devidamente fundamentadas que ajudem a explorar as potencialidades desse novo campo e, quando possível, alargar as suas chances de desenvolvimento. Pela mesma razão, não se pode desconhecer suas ambigüidades e contradições, alem dos interesses contrários que explicam muitas situações. Sabe-se, por exemplo, da estratégia de muitas empresas privadas, com incentivos governamentais, em plantarem cooperativas de fachada em regiões menos industrializadas, sem tradição operária, como forma de se verem livres de encargos sociais e da resistência dos trabalhadores mais organizados. Ocorre então, para os sócios arregimentados dessas falsas cooperativas, um retrocesso em relação ao assalariamento, e não um processo de emancipação.
Assim, as características da economia popular de solidariedade não estão dadas, mas se apresentam como tendências e potencialidades por vezes divergentes, desenvolvendo-se com maior ou menor intensidade, de acordo com as condições objetivas e subjetivas em que se produz cada uma dessas experiências. Buscar compreender essa realidade emergente significa captar as ambivalências, dificuldades e contradições que tais iniciativas carregam e, por conseguinte, problematizar o próprio conceito de economia solidária.
Por esses motivos, a Rede Interuniversitaria Unitrabalho idealizou uma ampla pesquisa nacional, com o apoio decisivo da Central Única dos Trabalhadores, a fim de verificar qual é o sentido e quais são as tendências da economia solidária no Brasil, tal como ela se apresenta hoje e para os anos vindouros. Como ponto de partida, considera-se valida a hipótese de que essas novas organizações dos trabalhadores estariam formando agentes propulsores de um novo solidarismo econômico. Como ponto de chegada, deseja-se averiguar as características efetivas desses empreendimentos, especialmente no que diz respeito ao seu fundamento solidário e á sua viabilidade, num ambiente econômico dominado por princípios opostos, de competição e eliminação dos concorrentes. Através da identificação e da análise de um conjunto expressivo de empreendimentos, espalhados no território nacional, a pesquisa tenciona subsidiar a reflexão sobre a natureza e o futuro da economia solidária, do ponto de vista da sua compreensão teórica e do debate político sobre o papel a ser desempenhado pelo sindicalismo, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil e o Estado.
Os empreendimentos econômicos solidários
Para que possa analisar as organizações de trabalho e renda, comparando a sua natureza e as características, a pesquisa esta utilizando como parâmetro o conceito de empreendimentos econômicos solidários. O conceito é teórico e funciona como uma espécie de modelo que reúne as características ideais de um empreendimento perfeitamente solidário. Na prática, nenhum caso vai corresponder plenamente ao modelo, sendo porém seu objetivo permitir que se observe quais são os traços positivos mais freqüentes das experiências que hoje se destacam, bem como suas principais dificuldades e lacunas, na perspectiva de viabilizarem uma alternativa solidária.
O conceito é, portanto, uma referência, um instrumento para a analise dos casos concretos. Ao mesmo tempo, ele espelha qual é a idéia de solidarismo econômico popular que está embasando a pesquisa e pode ser, então, como toda visão teórica, igualmente questionado é aprimorado.
Para chegar ao conceito, foram considerados os diversos aspectos que os estudos e análises estão apontando como novos e promissores nas experiências de economia solidária, ao lado do que a prática vem ensinando aos agentes envolvidos nesse campo, a exemplo das incubadoras de cooperativas populares.
Assim, pode-se afirmar que os empreendimentos econômicos solidários (EES) possuem idealmente as seguintes características:
Autogestão: controle da gestão pelo conjunto dos associados e autonomia diante de agentes externos.
Democracia: decisões tomadas pelo conjunto dos associados, por meio de instâncias diretivas livremente formada e eleitas, assegurando-se transparência no exercício da direção e sua fiscalização por órgãos independentes.
Participação: regularidade e freqüência de reuniões, assembléias e consultas, com elevado grau de comparecimento e mobilização e mecanismos de renovação e alternância dos quadros diretivos.
Igualitarismo: garantido por critérios de remuneração pelo trabalho, por uma divisão eqüitativa dos excedentes e benefícios, pela socialização do capital e pela inexistência de outros regimes de trabalho permanentes para atividades-fim.
Cooperação: responsabilidade partilhada no processo produtivo, relações de confiança e reciprocidade, paridade social entre funções de direção e de execução ou entre tarefas manuais e intelectuais.
Auto-sustentação: atividade produtiva geradora de viabilidade econômico-financeira, sem comprometimento do ambiente social e natural.
Desenvolvimento humano: processos de formação da consciência e de educação integral e iniciativas de qualificação técnica e profissional.
Responsabilidade social: ética solidária socialmente comprometida como melhorias na comunidade e com relações de comércio, troca e intercambio; e praticas geradoras de efeito irradiador e multiplicador.
A pesquisa está em seus primeiros passos. Sendo uma primeira investigação ampla e sistemática, visa fundamentalmente a trazer elementos para estudos posteriores, que possam fazer o aprofundamento que o assunto merece. Por isso, suas metas por enquanto são relativamente modestas: consistem em fazer um levantamento e uma análise preliminar dos empreendimentos solidários no Brasil, em criar um banco de dados permanente sobre a economia solidária, a ser atualizado periodicamente, e em favorecer a formação de parcerias entre universidades, movimentos sociais e outras organizações, no sentido de fortalecer suas ações em benefício do solidarismo popular.
Rumo a um novo tipo de economia popular?
Obviamente, por sua formação e sua história política, o setor cooperativista é o mais sujeito à criticas e dúvidas, quanto à natureza e ás finalidades das empresas que abriga. Há que se considerar, no entanto, importantes forças de renovação do cooperativismo, cuja atuação vem gerando estruturas independentes do sistema oficial e, além disso, tensionando as posições de poder e a direção nele dominantes. Um dos casos mais promissores, próximo dessa reflexão, é o interesse e a aproximação do sindicalismo cutista, hoje empenhado em vivo debate e em definir um papel pró-ativo junto aos trabalhadores, no que tange, certamente, ao estímulo para a formação de cooperativas autênticas e, também, à luta pela conquista e correção de rota das cooperativas desvirtuadas ou concebidas de modo fraudulento. Outro exemplo recente, fruto da convergência entre movimentos sociais, entidades civis e instituições de ensino, é a rápida expansão, em diferentes pontos do país, da Rede de Incubadoras Universitárias de Cooperativas Populares. Há mais tempo, sindicatos rurais, entidades comunitárias, igrejas, ongs e movimentos como o MST vêm agindo na mesma direção, sendo, portanto justificado falar de um novo campo cooperativista, popular e democrático.
Esse dinamismo vem sendo reforçado com o envolvimento paulatino de outros agentes e instituições. Contatos preliminares em Minas Gerais, com organizações de referências, acusaram um leque extremamente diversificado, quer em relação aos setores de negócio das associações e cooperativas (produção rural, indústria, comércio, transporte, reciclagem, profissões “liberais”, consultorias e auditorias, etc.), quer no que tange ao perfil das entidades de apoio. Entre essas últimas, é notória no país a afluência de ONGs e os aportes oferecidos por fundações privadas, de cunho empresarial, antes dedicadas apenas à filantropia e à assistência social. Fenômeno ainda dos mais significativos é a multiplicação das linhas de microcrédito, orientadas por conceitos e propósitos similares, com razoável potencial de sustentação dos grupos solidários.
A imersão nessa realidade, sobretudo numa ótica prospectiva, não deixa de suscitar questões. O próprio sindicalismo, em seu processo de discussão, vem levantando problemas pertinentes, de cunho teórico e político, relativos ao papel da economia solidária num novo projeto de desenvolvimento, à possibilidade de manter-se íntegra em suas características, à medida que se massifica, ao seu significado como experiência seminal, para os trabalhadores, no exercício coletivo de (algum) poder econômico, à chance de conduzirem, com seus efeitos motivadores, à superação de um estado de apatia social, e assim por diante (CUT, 1999). No âmbito da pesquisa, a discussão desses temas certamente levará a uma releitura do desenvolvimento histórico da economia moderna, especialmente das inter-relações e das possíveis margens de autonomia entre a economia de mercado, o capitalismo e outras formas de produção e intercâmbio. Do mesmo modo, caberia indagar sobre as relações entre as práticas econômicas de subsistência, o setor informal e as novas experiências ora em gestação. Tampouco poderiam ser esquecidas as incidências dos empreendimentos solidários sobre a vitalização da economia e da vida social nos ambientes onde se estabelecem, evitando-se, todavia, uma percepção excessivamente endógena do desenvolvimento local. Por fim, caberia responder se a economia solidária está destinada a ser um fenômeno meramente reativo, provocado pelas alterações macro-econômicas e delas permanecendo dependente, ou se, ainda tendo essa origem, pode vir a gerar novas condições que a sustentem, num movimento de retro-alimentação capaz de fortalecer progressivamente esse campo e auto determinar sua sobrevivência e expansão, cotejando-o com outros protagonistas, na disputa entre modelos e lógicas de desenvolvimento.
Com vistas a essa questão de magnitude, concluiria essa reflexão evocando algumas constatações de pesquisas, que justificam algum otimismo – no momento atual, é principalmente disto que se trata. Refiro-me, primeiramente, às conclusões parciais de um estudo pormenorizado, acerca das empresas de autogestão e participação acionária aglutinadas pela ANTEAG. Compreendendo nove casos, de diferentes estados e regiões, para fins de avaliar sua viabilidade e sua capacidade de integração tecnológica, competitiva, organizacional e social, a pesquisa identificou alguns fatores relevantes que demarcam a construção social dessas empresas. Entre outros: a importância da cooperação é reconhecida, havendo estímulo e práticas de participação, orientadas para o consenso e a co-responsabilidade; aceitam-se desafios de produção e quotas extras de contribuição, com menor índice de conflitos; há uma disposição para que se proceda a uma equiparação de ganhos, comparativamente à realidade do mercado; valoriza-se o potencial de competência, com acentuada consciência da necessidade de educação de base e de formação profissional; observa-se preocupação com o meio-ambiente; associados à seriedade nas relações com os clientes, a qualidade e o custo de produção tendem a ser tornar vantagens competitivas (Peixoto & Lopes, 1999).
O diferencial demonstrado por essas empresas parece ter, em seu cerne, o mesmo fator identificado em pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul (Gaiger, 1994; Gaiger et alii, 1999), focalizando cooperativas populares de diversos ramos, além de organizações congêneres. Trata-se do ciclo virtuoso propiciado pelo desenvolvimento da autogestão e da cooperação no trabalho. Em outras palavras, a força desses empreendimentos reside em sua capacidade de conciliar, simbioticamente, as relações de trabalho que lhe são próprias com os imperativos de eficiência, de modo que a própria cooperação converta-se em vigamestre de uma nova racionalidade sócio-econômica: o solidarismo empreendedor. Assim sendo, a busca de resultados vale-se das potencialidades do trabalho consorciado, em favor dos próprios produtores e no interesse da sobrevivência do empreendimento.
O solidarismo empreendedor
Ao explorar essa hipótese, os estudos em questão indicaram que o êxito dos empreendimentos econômicos solidários está vinculado a circunstâncias e fatores, cujo efeito positivo decorre proporcionalmente do caráter socialmente cooperativo por eles incorporado. Por seu turno, o solidarismo e a cooperação no trabalho, uma vez assegurados, propiciam fatores particulares de eficiência, funcionando então como vetores específicos da viabilidade e competitividade dos empreendimentos. Os resultados econômicos e sociais alcançados, ademais, demonstram que tais iniciativas apresentam sinais consistentes de viabilidade e tendem ou podem evoluir para sua auto-sustentação. Finalmente, evidencia-se que a realização exitosa dos objetivos dos empreendimentos solidários não impõe mecanismos de exploração dos trabalhadores, conferindo-lhes uma natureza distinta do processo de produção capitalista.
Nesse particular, o trunfo maior das empresas autogeridas, subjacente às vantagens que apresentam, reside, em última instância, na ruptura que estabelecem com as relações sociais e a lógica capitalista de produção de mercadorias. Ao suprimirem a separação entre os trabalhadores e os meios de produção, ao assim eliminarem a apropriação privada e desfazerem o antagonismo entre o capital e o trabalho, ganham a possibilidade de superar o caráter alienante e descartável da atividade produtiva. Com isso, assumem um novo patamar de satisfação, atendendo a aspirações não apenas materiais ou monetárias, voltando-se à humanização das relações, no trabalho e na vida.
Os empreendimentos inovam, em seu âmbito interno e em seus vínculos mútuos, as relações que definem o processo social de trabalho. Nessa medida, contêm e desenvolvem, em seu seio, uma nova forma social de produção (Godelier, 1981). A perspectiva está em que esse novo arranjo do processo de trabalho e dos fatores produtivos, distinto da forma assalariada capitalista, venha a perdurar no atual ambiente econômico, sem perder as suas características. Quando se constata que a forma social solidária otimiza os fatores de rentabilidade que encontra na base técnica moderna e, além disso, renova o conteúdo material do processo de trabalho e passa a gerar novas forças produtivas, materiais e intelectuais, adaptadas às suas especificidades (as “tecnologias alternativas” e novos métodos gerenciais, por exemplo), essas chances crescem. As relações que então se estabelecem com o capital, desse ponto de vista, se não adquirem o sentido de superação deste último, apontam para a possibilidade de crescimento e consolidação de um novo campo de práticas econômicas.
[1] Gaiger, Luiz Inácio. Significados e tendências da economia solidária. In Sindicalismo e Economia Solidária.Reflexões sobre o projeto da CUT.1999.
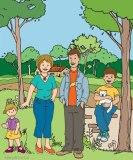
0 comentários:
Postar um comentário