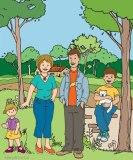Para àqueles que acreditam fazer parte de uma construção.
Vamos pensar nos bons ventos que nos chegam através das várias mãos unidas. para fazer gerar vida no semiárido recontando todos os dias histórias construídas com ensinamentos da vida, numa alquimia incessante das várias possibilidades que nos faz acreditar na beleza de existir muitas vidas regidas por um clima rústico e arrojado em sua maneira de fazer-se presente para o mundo.
Vamos pensar meu povo na beleza de fazer parte dessa construção, que não é de hoje, vem sendo lapidada por séculos a fio, onde a rudeza da terra confunde-se com a rudeza do homem que lá convive.
Elvira Pereira de Araújo.
.
quinta-feira, 28 de julho de 2011
SEMIÁRIDO
Oi pessoal,
Dêem uma olhadinha nesse link: SERTÕES DE CINEMA DE AMBULAÇÕES EM BUSCA DE UMA PERPESCTIVA. www.org.br/imprensa/noticias/2010/junho/3a-semana
Dêem uma olhadinha nesse link: SERTÕES DE CINEMA DE AMBULAÇÕES EM BUSCA DE UMA PERPESCTIVA. www.org.br/imprensa/noticias/2010/junho/3a-semana
sábado, 23 de julho de 2011
‘Meu dever é falar, não quero ser cúmplice’. (Émile Zola)
Tributo ao Professor Kássio Vinícius Castro Gomes
O texto a seguir foi escrito por Igor Pantuzza Wildmann (Advogado – Doutor em Direito. Professor Universitário ) e publicado pelo site www.consae.com.br Enviado pelos professores Luis Aparecido Rabelo e Marli Piffer. Veja a que ponto chegou a Educação no Brasil.
‘Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice’. (Émile Zola)
‘Meu dever é falar, não quero ser cúmplice’. (Émile Zola)
‘Meu dever é falar, não quero ser cúmplice’. (Émile Zola)
Foi uma tragédia fartamente anunciada. Em milhares de casos, desrespeito. Em outros tantos, escárnio. Em Belo Horizonte , um estudante processa a escola e o professor que lhe deu notas baixas, alegando que teve danos morais ao ter que virar noites estudando para a prova subsequente. (Notem bem: o alegado “dano moral” do estudante foi ter que… estudar!).
A coisa não fica apenas por aí. Pelo Brasil afora, ameaças constantes. Ainda neste ano, uma professora brutalmente espancada por um aluno. O ápice desta escalada macabra não poderia ser outro.
O professor Kássio Vinícius Castro Gomes pagou com sua vida, com seu futuro, com o futuro de sua esposa e filhas, com as lágrimas eternas de sua mãe, pela irresponsabilidade que há muito vem tomando conta dos ambientes escolares.
Há uma lógica perversa por trás dessa asquerosa escalada. A promoção do desrespeito aos valores, ao bom senso, às regras de bem viver e à autoridade foi elevada a método de ensino e imperativo de convivência supostamente democrática.
No início, foi o maio de 68, em Paris: gritava-se nas ruas que “era proibido proibir”. Depois, a geração do “não bate, que traumatiza”. A coisa continuou: “Não reprove, que atrapalha”. Não dê provas difíceis, pois “temos que respeitar o perfil dos nossos alunos”. Aliás, “prova não prova nada”. Deixe o aluno “construir seu conhecimento.” Não vamos avaliar o aluno. Pensando bem, “é o aluno que vai avaliar o professor”. Afinal de contas, ele está pagando…
E como a estupidez humana não tem limite, a avacalhação geral epidêmica, travestida de “novo paradigma” (Irc!), prosseguiu a todo vapor, em vários setores: “o bandido é vítima da sociedade”, “temos que mudar tudo isso que está aí’; “mais importante que ter conhecimento é ser ‘crítico’.”
Claro que a intelectualidade rasa de pedagogos de panfleto e burocratas carreiristas ganhou um imenso impulso com a mercantilização desabrida do ensino: agora, o discurso anti-disciplina é anabolizado pela lógica doentia e desonesta da paparicação ao aluno–cliente…
Estamos criando gerações em que uma parcela considerável de nossos cidadãos é composta de adultos mimados, despreparados para os problemas, decepções e desafios da vida, incapazes de lidar com conflitos e, pior, dotados de uma delirante certeza de que “o mundo lhes deve algo”.
Um desses jovens, revoltado com suas notas baixas, cravou uma faca com dezoito centímetros de lâmina, bem no coração de um professor. Tirou-lhe tudo o que tinha e tudo o que poderia vir a ter, sentir, amar.
Ao assassino, corretamente, deverão ser concedidos todos os direitos que a lei prevê: o direito ao tratamento humano, o direito à ampla defesa, o direito de não ser condenado em pena maior do que a prevista em lei. Tudo isso, e muito mais, fará parte do devido processo legal, que se iniciará com a denúncia, a ser apresentada pelo Ministério Público.
A acusação penal ao autor do homicídio covarde virá do promotor de justiça. Mas, com a licença devida ao célebre texto de Emile Zola, EU ACUSO tantos outros que estão por trás do cabo da faca;
EU ACUSO a pedagogia ideologizada, que pretende relativizar tudo e todos, equiparando certo ao errado e vice-versa;
EU ACUSO os pseudo-intelectuais de panfleto, que romantizam a “revolta dos oprimidos” e justificam a violência por parte daqueles que se sentem vítimas;
EU ACUSO os burocratas da educação e suas cartilhas do politicamente correto, que impedem a escola de constar faltas graves no histórico escolar, mesmo de alunos criminosos, deixando-os livres para tumultuar e cometer crimes em outras escolas;
EU ACUSO a hipocrisia de exigir professores com mestrado e doutorado, muitos dos quais, no dia a dia, serão pressionados a dar provas bem tranqüilas, provas de mentirinha, para “adequar a avaliação ao perfil dos alunos”;
EU ACUSO os últimos tantos Ministros da Educação, que em nome de estatísticas hipócritas e interesses privados, permitiram a proliferação de cursos superiores completamente sem condições, freqüentados por alunos igualmente sem condições de ali estar;
EU ACUSO a mercantilização cretina do ensino, a venda de diplomas e títulos sem o mínimo de interesse e de responsabilidade com o conteúdo e formação dos alunos, bem como de suas futuras missões na sociedade;
EU ACUSO a lógica doentia e hipócrita do aluno-cliente, cada vez menos exigido e cada vez mais paparicado e enganado, o qual, finge que não sabe que, para a escola que lhe paparica, seu boleto hoje vale muito mais do que seu sucesso e sua felicidade amanhã;
EU ACUSO a hipocrisia das escolas que jamais reprovam seus alunos, as quais formam analfabetos funcionais só para maquiar estatísticas do IDH e dizer ao mundo que o número de alunos com segundo grau completo cresceu “tantos por cento”;
EU ACUSO os que aplaudem tais escolas e ainda trabalham pela massificação do ensino superior, sem entender que o aluno que ali chega deve ter o mínimo de preparo civilizacional, intelectual e moral, pois estamos chegando ao tempo no qual o aluno “terá direito” de se tornar médico ou advogado sem sequer saber escrever, tudo para o desespero de seus futuros clientes-cobaia;
EU ACUSO os que agora falam em promover um “novo paradigma”, uma “ nova cultura de paz”, pois o que se deve promover é a boa e VELHA cultura da “vergonha na cara”, do respeito às normas, à autoridade e do respeito ao ambiente universitário como um ambiente de busca do conhecimento;
EU ACUSO os que acham e ensinam que disciplina é “careta”, que respeito às normas é coisa de velho decrépito;
EU ACUSO os métodos de avaliação de professores, que se tornaram templos de vendilhões, nos quais votos são comprados e vendidos em troca de piadinhas, sorrisos e notas fáceis;
EU ACUSO os alunos que protestam contra a impunidade dos políticos, mas gabam-se de colar nas provas, assim como ACUSO os professores que, vendo tais alunos colarem, não têm coragem de aplicar a devida punição.
EU VEEMENTEMENTE ACUSO os diretores e coordenadores que impedem os professores de punir os alunos que colam, ou pretendem que os professores sejam “promoters” de seus cursos;
EU ACUSO os diretores e coordenadores que toleram condutas desrespeitosas de alunos contra professores e funcionários, pois sua omissão quanto aos pequenos incidentes é diretamente responsável pela ocorrência dos incidentes maiores;
Uma multidão de filhos tiranos que se tornam alunos -clientes, serão despejados na vida como adultos eternamente infantilizados e totalmente despreparados, tanto tecnicamente para o exercício da profissão, quanto pessoalmente para os conflitos, desafios e decepções do dia a dia.
Ensimesmados em seus delírios de perseguição ou de grandeza, estes jovens mostram cada vez menos preparo na delicada e essencial arte que é lidar com aquele ser complexo e imprevisível que podemos chamar de “o outro”.
A infantilização eterna cria a seguinte e horrenda lógica, hoje na cabeça de muitas crianças em corpo de adulto: “Se eu tiro nota baixa, a culpa é do professor. Se não tenho dinheiro, a culpa é do patrão. Se me drogo, a culpa é dos meus pais. Se furto, roubo, mato, a culpa é do sistema. Eu, sou apenas uma vítima. Uma eterna vítima. O opressor é você, que trabalha, paga suas contas em dia e vive sua vida. Minhas coisas não saíram como eu queria. Estou com muita raiva. Quando eu era criança, eu batia os pés no chão. Mas agora, fisicamente, eu cresci. Portanto, você pode ser o próximo.”
Qualquer um de nós pode ser o próximo, por qualquer motivo. Em qualquer lugar, dentro ou fora das escolas. A facada ignóbil no professor Kássio dói no peito de todos nós. Que a sua morte não seja em vão. É hora de repensarmos a educação brasileira e abrirmos mão dos modismos e invencionices. A melhor “nova cultura de paz” que podemos adotar nas escolas e universidades é fazermos as pazes com os bons e velhos conceitos de seriedade, responsabilidade, disciplina e estudo de verdade.
*Igor Pantuzza Wildmann (Advogado – Doutor em Direito. Professor Universitário )
Publicado pelo site www.consae.com.br
FONTE:http://piquiri.blogspot.com/2011/05/tributo-ao-professor-kassio-vinicius.html
quinta-feira, 21 de julho de 2011
1º EVENDO DA APAE ANGICOS
APAE ANGICOS FAZ SEU PRIMEIRO EVENTO COM
GRANDE MOBILIDADE E ACEITAÇÃO DA POPULAÇÃO QUE
SE MOSTRA ENTUSIASMADA COM O NASCIMENTO DA INSTITUIÇÃO
NA CIDADE DA REGIÃO CENTRAL. SUCESSO GARANTIDO!
GRANDE MOBILIDADE E ACEITAÇÃO DA POPULAÇÃO QUE
SE MOSTRA ENTUSIASMADA COM O NASCIMENTO DA INSTITUIÇÃO
NA CIDADE DA REGIÃO CENTRAL. SUCESSO GARANTIDO!
terça-feira, 19 de julho de 2011
Profissão Pra Ficar Rico
Banda Dark Side (Angicos)
(refrão)
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
(canto 1)
Ser político meu amigo, é ser muito bacana,
Só vive viajando, e nadando em muita grana,
Todo político é igual, aqui ou em todo lugar,
Desvia rios de dinheiro, sem ninguém pra segurar,
(refrão)
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
(canto 2)
Ser traficante na favela, e ser muito importante,
Vende maconha e cocaína, pra playboy ignorante,
Que paga sem saber, uma bala pra morrer,
E o que vai acontecer? Num caixão ele vai apodrecer,
(refrão)
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
(canto 3)
Ser ladrão é ter dinheiro, uma moto e uma pajero,
E aí quem é que não quer? Ter um iate e muita mulher,
O mundo é muito esquisito e isso me revolta,
Então, escute esse refrão,
(refrão)
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão,
Se você quer ser rico escolha a profissão,
Você pode ser político, traficante ou ladrão.
- Roger Floyd-Backing Vocal, Guitarra Base
- Ricardo-Backing Vocal, Baixo
- Everaldo-Backing Vocal, Bateria, Teclado
- Fabio Floyd-Guitarra Solo
- Nilton Macedo-Voz
- Werbet-Teclado
- Telefone: (84) 3531-2911
- Endereço: RUA ARISTOFANES FERNANDES, ALTO DO TRIANGULO – ANGICOS-RN

A violação de direitos garantidos é legal?
| Professora Aldacéia comenta TJRN |
A violação de direitos garantidos é legal? A exigibilidade de direitos garantidos é ilegal?
* Aldacéia Oliveira
Diante da decisão do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), que acatou pedido do Governo do Estado e votou pela ilegalidade da greve e do anúncio de corte de salários dos grevistas, quero manifestar meu repúdio e, ao mesmo tempo, convidá-los/las a renovarem a indignação e espírito de lutas por uma educação pública com qualidade social – para todas as pessoas.
A efetivação dos direitos mais elementares passa, necessariamente, pela educação e esta, além de direito, constitui-se forte instrumento de exercício democrático e realização da cidadania participativa e, portanto, elemento de extrema relevância para a transformação de uma sociedade.
Assim sendo, os profissionais da educação são postos, na agenda de governos do tipo Rosalba, como profissionais que, na prática, não precisam ser valorizados, pois, no exercício da função social da educação, em contextos do saber-fazer pedagógico, são sujeitos que anunciam e criam - nas interações com os sujeitos - novos modos de pensar, agir e relacionar-se consigo, com os outros, com o coletivo e com o que é público. Compromisso com a educação pública, para este governo, é mera retórica de campanha eleitoral.
Não é à toa que a Rosalba, sob o manto da proteção judicial, faz cair por terra um direito constitucional: o direito à greve. E a Secretária Betânia Ramalho instaurará processo administrativo disciplinar contra os servidores que estão, pela greve, lutando por uma educação pública com qualidade social? A que se destinaram as reflexões desenvolvidas em sua produção acadêmico-científica? E os/as que estão em exercício na gestão das DIREDs? Como se sentem e se posicionam diante desses fatos?
As crianças, adolescentes, juventudes e os profissionais que estão no terreno das escolas públicas estaduais sabem sim como são precárias as condições de trabalho/ de ensino e de aprendizagens, além dos péssimos salários dos docentes e demais servidores da rede pública estadual de educação.
E essa realidade também se faz presente no universo de trabalho dos que estão na área da saúde, da segurança públicas do Estado, dentre outras áreas. Esse quadro é de legalidade? A violação de direitos deve ser banalizada? Ao que parece, o direito, por si só, não é suficiente para produzir as transformações necessárias à sua efetivação. Faz-se necessária a articulação, a pressão, acompanhada de um processo de mudança de mentalidades.
Assim, é preciso valer o direito a lutar contra a negação do direito a uma educação pública com garantia de dignidade aos que nela trabalham e estudam.
* Matéria publicada a pedido de Aldacéia Oliveira, professora da UERN - Campus Pau dos Ferros e imagem http://www.sociedadeativa.net/
FONTE:http://blogdocaramuru.blogspot.com/
FONTE:http://blogdocaramuru.blogspot.com/
segunda-feira, 18 de julho de 2011
Morreu Raimundo Alves: pai exemplar, homem servidor e um amigo
domingo, 17 de julho de 2011
 |
| Raimundo Alves ao lado da esposa Eliene Holanda |
Morreu Raimundo Alves: pai exemplar, homem servidor e um amigo
* Caramurú
Não tem como deixar de pensar na letra do Caetano Veloso ("Existirmos a que será que se destina ?") quando acontecem as despedidas de amigos como Raimundo Alves. Ontem, ele fez o percurso rotineiro de sair do Bom Jesus para conferir o roçado na caatinga. Saiu sem nenhum problema, às 15 h; e voltou depois da 20 h, morto de infarto. Havia menos de um mês que os exames tinham mostrado um coração perfeito.
Raimundo Alves era casado há 31 anos com Eliene Holanda e tinha 6 filhos e filhas: Netinho, Paulo, Gorgonha, Ceição, Katarina e Lilia Holanda. Um dos maiores legados de sua vida é este da construção de uma família sólida e a educação exemplar de tanta gente, ao lado da leal esposa.
Mas Raimundo Alves foi mais. Uma pessoa que gostava de servir a todos e todas sem distinção cuja principal característica era sempre a casa cheia de moradores da comunidade, almoçando ou resolvendo problemas com a ajuda de um silente Raimundo.
Raimundo Alves também foi um importante líder comunitário. Lembro que um dos primeiros cursos que ministrei como engenheiro agrônomo foi o de cajucultura, na associação do Bom Jesus quando Raimundo foi presidente e daí desenvolveu uma discussão sobre aproveitamento desta fruta que num passado recente culminou com os fortes investimentos na cadeia do caju, conquistados sobre a liderança de sua filha Lilia Holanda.
Raimundo Alves como PMDBista de origem atuou nas duas gestões do ex prefeito Bebeto Almeida, mas a convivência com a filha petista nos deu a honra de receber seus últimos votos para as candidaturas proporcionais do PT. Raimundo tinha um sonho claro de fazer a sua filha Lilia Holanda vereadora do Bom Jesus.
O agricultor Raimundo Alves foi muito mais que um amigo. Ele foi uma lição de vida, mostrando que para ser importante não precisa ter altos cargos e muitos menos escancarar sorrisos falsos. Basta a integridade que deixa tantos ensinamentos. Raimundo Alves era um companheiro na melhor definição de D. Heldér Câmara:
"A Melhor definição que eu conheço da palavra companheiros é: Companheiros são os que repartem o mesmo pão;"
FONTE:http://blogdocaramuru.blogspot.com/
Nossos Pêsames!
Todos que fazem o CESSA - ANGICOS/RN, se solidariza com a amiga Lilia Holanda pela perca irreparável de seu pai.
Amiga aceite um forte abraço de todos.
Amiga aceite um forte abraço de todos.
sexta-feira, 15 de julho de 2011
Mundanças que as redes sociais trouxeram
Mundanças que as redes sociais trouxeram
Redes Sociais from Noblink.tv on Vimeo.
FONTE:http://agenteadjania.blogspot.com/2009/11/trabalho-sobre-redes-socias-dia-301009.html
FONTE:http://agenteadjania.blogspot.com/2009/11/trabalho-sobre-redes-socias-dia-301009.html
quinta-feira, 14 de julho de 2011
A Educação no Brasil em uma perspectiva de transformação
A Educação no Brasil em uma perspectiva de transformação
Simon Schwartzman, Eunice Ribeiro Durham e José Goldemberg
Universidade de São Paulo
Trabalho realizado para o Projeto sobre Educação na América Latina do Diálogo Interamericano. São Paulo, Junho de 1993Universidade de São Paulo
Índice
Resumo
1 - Introdução
2 - Características gerais do sistema e situação atual
2.1 - Características gerais do sistema2.2 - Situação atual3 - A organização do sistema e os recursos disponíveis
3.1 - A divisão de responsabilidades4 - Os problemas gerais
3.2 - Os gastos públicos com educação3.3 - A atuação do governo federal3.4 - Os estados e municípios3.5 - O ensino privado
4.1 - o analfabetismo5 - Os problemas dos diferentes níveis de ensino
4.2 - O funcionamento do sistema: baixa qualidade, repetência, ineficiência e iniqüidade
4.3 - Problemas organizacionais: a burocracia e a instabilidade administrativa
5.1 - Educação pré-escolar5.2 - Primeiro grau6 - Políticas governamentais
5.3 - O ensino médio5.4 - Ensino técnico
5.5 - O ensino superior
5.6 - A pós-graduação
6.1 - Políticas para o ensino básico e pré-escolar7 - Uma perspectiva de transformação
6.1.1 - Estados e Municípios6.1.2 - Governo Federal
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo
6.1.3 - Conclusões6.2 - Ensino Médio6.3 - Ensino superior e pós-graduação
Referências Bibliográficas
Notas
FONTE:http://www.schwartzman.org.br/simon/transform.htm
Os Conceitos de Educação no Brasil
Os Conceitos de Educação no Brasil:
Uma análise sobre Arnaldo Niskier
Carlos Ignácio Pinto
carlos@klepsidra.net
Quarto Ano - História/USP
download - arnaldoniskier.doc - 33KB
Introdução
A Educação é tema das mais acaloradas discussões na contemporaneidade, seja ligada a temas políticos, filosóficos, sociais e universitários. Tentar compreende-la requer um pouco de entendimento sobre seus "modelos" concebidos, bem como as idealizações que se tem a partir destes.
Tema que permeia toda sociedade, na modernidade nunca esteve livre da alcunha de libertadora da opressão que aflige os povos menos afortunados. Difícil é perceber um discurso político em que a Educação não seja colocada como um dos principais redentores do atraso crônico de várias nações, inclusive o Brasil.
Mas a que se deve esta compreensão redentora da educação?
Neste trabalho, mais importante do que a compreensão deste cientificismo de nossa sociedade que lega ao progresso tecnológico a saída do atraso e conduz a educação por este viés, é a percepção de como este discurso é o manto no qual a educação esta envolvida. Muito mais do que o desenvolvimento do indivíduo é preciso coloca-lo dentro deste mundo e incumbi-lo de uma função que tem por premissa, sua colaboração ao desenvolvimento de seu país; é preciso educa-lo.
A educação é redentora da situação social do indivíduo (quanto mais baixa esta for, pois como diz o ditado popular "o país que constrói escolas, destrói presídios") e, ao mesmo tempo, fornece subsídio ao desenvolvimento das nações, embrenhadas no desenvolvimento tecnológico e na concorrência de mercado.
Desta forma, este trabalho busca mostrar como este discurso esta lançado no meio social, sem a intenção de coloca-lo como certo ou errado, mas de como este pode ditar as diretrizes de todo o sistema educacional de uma nação, que no caso do Brasil, ignora suas diferenças culturais em nome de um desenvolvimento, equacionando as diferenças para tentativa da compreensão de um uno educacional, que enxerga as desigualdades dentro de uma disciplina escolar, mas que não se reflete nesta.
A análise do discurso
Este trabalho vai usar como fonte de análise, os ensaios escritos por um daqueles que mais escreveu e escreve sobre educação no Brasil, o "imortal" membro da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Niskier. Os textos estão compilados em uma obra chamada "A Educação na Virada do Século" publicado pela editora Expressão e Cultura em Maio de 2001, em que constam vários ensaios do ex-presidente da já citada Academia (1997-2000), e que fornecem dados imprescindíveis à análise. Ao todo são 65 ensaios, dos quais faremos uso de alguns, pois o trabalho não comportaria a análise de todos.
A Educação Para Arnaldo Niskier
"Educação
O maior desafio do Brasil do presente
e do futuro, o impulso objetivo para a
redenção nacional..."
Arnaldo Niskier
Hannah Arendt (1), ao apontar aquilo que ela determina como a crise da educação mundial, destaca: "Uma crise só se torna um desastre, quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos" (2). Se tomarmos este viés, fica claro que como esta colocada à educação no Brasil, sem entrarmos nos trâmites das diferenças que se põem nos projetos que a concebem, perceberemos que a discussão não parte sobre aquilo que possa ser determinantemente novo, mas de como o que já esta concebido, deve ser melhor aplicado.
Se "... a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo. " (3), é a consciência que imputa à criança o status do novo, através da educação, quando esta está voltada a política (reconhecida naquilo que concebemos como projeto do Estado), de novo nada oferece, somente a perpetuação daquilo que já existe, através de uma doutrinação no mínimo tirânica (4).
Arnaldo Niskier ao tratar a educação no Brasil, não esta pensando sobre a concepção da mesma, pois esta já esta dada: "A educação científica é a educação do futuro" (5). Não é a discussão sobre a mesma, mais que formas ela deva ser aplicada a determinado fim. A educação esta voltada inteiramente ao progresso tecnológico de nossa civilização e o país que neste quadro não se inserir estará condenando a si e a seus cidadãos ao fracasso e a miséria.
Daí percebermos que o novo, aí colocado, é a tecnologia e não a educação em si. É preciso inserir as crianças em um sistema de aprendizado que não tem ligação com o desenvolvimento intelectual, apenas técnico, na medida em que a educação deve voltar-se para preparação e qualificação da mão de obra do "futuro".
Se a tecnologia é o novo, a qualificação da mão de obra esta presa a uma concepção muito mais antiga, ainda inserida no projeto de Estado e que remonta a introdução das indústrias automobilísticas no Brasil dos anos 50 e 60. "Estamos de olhos postos no século XXI e imaginando as transformações que deverão ocorrer no campo da educação. Passaremos da Era Industrial para a Sociedade da Informação - e isso não se faz sem profundas mudanças" (6).
Perceba que a condição de novo esta dada pela tecnologia e as mudanças da educação pensada a partir desta e não a partir do indivíduo, pois o destino deste já está sacralizado; engrenagem que movimenta a máquina, mais que antes foi preciso alimenta-lo das habilidades específicas necessárias. O que há de novo nisto?
A tecnologia já esta colocada desde a invenção das máquinas de tecer a vapor. A incorporação do indivíduo ao processo de produção é muito mais antiga ainda. O que a sociedade da informação, determinada como globalizada clama para si é a proximidade relativa dos indivíduos que se comunicam com o mundo todo ao simples toque de um teclado, e a grande vedete do mundo moderno é a capacidade de se informar mais em menos tempo. Mas daí temos uma relação no mínimo, muito estranha. O indivíduo capacitado a sua performance no mundo globalizado, como parte da engrenagem, está sendo alimentado pelas milhares de informações despejadas pela globalização. No entanto, como este indivíduo a pensa? Exatamente como parte da engrenagem. Daí o indivíduo é preparado à nova sociedade somente sob um aspecto, e por mais absurdo que pareça, o da doutrinação, que se olharmos, esteve ligada a sua educação.
A educação pensada por Niskier desenvolveu meios para pensar este mundo tido como novo? Não! Apenas assim o adjetivou; demonstrou como o indivíduo deve se encaixar nele de forma a retro-alimenta-lo. É a reprodução de si mesmo em diferentes meios, neste caso dado pela tecnologia, já percebida que se instrumentada aos indivíduos através da educação, é tida como redentora das nações. Segundo o autor:
"Devemos estar preparados, como os norte americanos, para um ambiente de contínua aprendizagem. Treinamento e retreinamento são políticas hoje essenciais ao país, razão que torna a modalidade nascente entre nós de "educação a distância", amplamente aconselhável. ...e será talvez a maior inovação da educação brasileira no início do terceiro milênio, pois poderá se valer de recursos de extraordinário alcance, como é o caso do satélite doméstico de telecomunicações." (7)
"O mecanismo a ser estabelecido (a educação a distância) poderá ser útil na educação especial e certamente terá uma prioridade inescapável: pensar a formação e o treinamento de professores e especialistas, nossa prioridade nº 1." (8)
Se por um acaso, na citação acima, nós trocássemos a palavra educação por capacitação técnica, perceberíamos que o sentido da frase, do conteúdo e finalidade das idéias não se alteraria; gostaria de lembrar que, ensino a distância no Brasil não é algo novo, e que o Instituto Universal Brasileiro já o faz há muito tempo; a única diferença são os meios.
Na segunda citação, note que a concepção de educação quando alcança os patamares do ensino universitário, também deve estar voltada as finalidades anteriormente estabelecidas. A formação universitária deve capacitar os profissionais a ensinar ou reproduzir a educação voltada ao mercado de trabalho. Umas das mais inquietadoras citações do livro são as referentes ao ensino superior, que como dito anteriormente, possui sua função. Vejamos como o autor observa o que seria a salvação contra a desvalorização crescente da pós-graduação no Brasil.
"As pesquisas devem existir e se ligar ao setor produtivo. Assim haverá melhores resultados e não se justificará qualquer corte de verbas que sacrifique esse esforço fundamental." (9)
Gostaria de perguntar ao autor sobre a pós-graduação das Ciências Humanas. Deveriam deixar de existir já que dificilmente se encaixam no setor produtivo?
Esta concepção sobre a educação não é exclusiva de Niskier e um dos maiores defensores sobre este modelo voltado para a tecnicidade necessária ao mercado e que deve buscar favorecer e inserir os menos favorecidos na sociedade de formas mais satisfatórias é Darcy Ribeiro, um dos autores da lei que estabeleceu os cursos seqüenciais universitários que busca poder abranger um maior número de pessoas e capacita-las ao setor produtivo.
É lógico que a discussão é muito mais abrangente e o buraco um pouco mais abaixo no que diz relação aos cursos seqüenciais, pois o que percebemos é que estes tipos de curso estão se alastrando pelo país, mas por via das universidades particulares que prezam muito mais a conta corrente do aluno do que sua formação, o que afirmo sem a mínima demagogia, e não estou passando pela questão da qualidade, pois como já observado por J. M. Azanha em "Democratização do Ensino: Vicissitudes da Idéia no Ensino Paulista", esta discussão sobre qualidade é muito perigosa, pois poderíamos incorrer no perigo de querer nivelar todo o ensino com base em uma educação oferecida a muitos poucos ou aqueles únicos que podem pagar por ela.
A finalidade dos cursos seqüenciais não é atingida subvertendo sua aplicação, servindo até o momento apenas para captação de dinheiro para as escolas de ensino superior privadas, usando-se da propaganda de um curso rápido e de nível universitário. Perfeito para a demanda da sociedade moderna e globalizada de Niskier. Produto embalado e pronto para a venda que possui apenas um inconveniente: o termo Educação na embalagem.
Conclusão
Minha idéia neste trabalho não foi determinar o certo ou errado nestes conceitos, mesmo que não conseguindo escapar a algumas observações que provocadamente se fizeram necessárias, mas tentar perceber o conceito de educação ali envolvido e de como a partir deste, os modelos se desenvolvem e se contradizem. Contradizem-se porque no âmago, a formação do indivíduo esta pensada para a finalidade do mercado produtivo e não de auxilia-lo a desenvolver meios para pensar este. Não cria algo de novo, excetuando-se os meios, mas que apenas reproduz a si mesmo, por meio de uma concepção que confere a educação à função de redentora das mazelas do país.
Acredito que a capacitação técnica seja necessária, pois não há como desta se eximir, visto que estamos inseridos "até o cabelo" neste modelo; entretanto, precisamos discutir o conceito de educação utilizado em nosso país. Qual sua finalidade?
Se realmente for apenas a capacitação e a inserção menos incomoda do cidadão na sociedade, engrenagem do sistema produtivo, então me calo. Mas se educação como à concebo, está direcionada ao pensamento, a sua transmissão através de uma das coisas mais simples do homem, mais que tanto vem se colocando de lado, o da relação, já tão gritante em Vigotsky, não há como se calar. É preciso que estejamos repensando, como educadores que somos, o que queremos da educação e a partir daí colaborar para que aquilo que acreditamos como o necessário, sem sistema, sem produção, sem inserção ao mercado, apenas a relação do homem consigo mesmo e a partir daí, seu mundo, sempre repensando-o.
Notas
1 - Hanna Arendt. Pág. 221-245.
2 - Idem, pág. 223.
3 - Ibdem, pág. 223.
4 - Ibdem, pág. 225. “Mas mesmo ás crianças que se quer educar para que sejam cidadãos de um amanhã utópico é negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo, pois do ponto vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo, é necessariamente mais velho do que eles mesmos.”
5 - Niskier, Arnaldo. A Educação na Virada do Século. Ed. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1ª ed., 2001. Pág. 24.
6 - Idem, ensaio “O Modelo da Era da Informação”, pág. 169.
7 - Ibdem, ensaio “A Educação de Amanhã”. Pág. 29.
8 - Ibdem, ensaio “A Hora do Satélite”. Pág. 203.
9 - Ibdem, ensaio “Pós-graduação não é emprego.” Pág. 22.
Bibliografia
Arendt, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. Ed. Perspectiva, São Paulo, 2001.
Azanha, José M. Educação: alguns escritos. São Paulo: C.E. Nacional, 1982.
Niskier, Arnaldo. A Educação na Virada do Século. Ed. Expressão e Cultura. São Paulo, 2001.
FONTE:http://www.klepsidra.net/klepsidra12/arnaldoniskier.html
Uma análise sobre Arnaldo Niskier
Carlos Ignácio Pinto
carlos@klepsidra.net
Quarto Ano - História/USP
download - arnaldoniskier.doc - 33KB
Introdução
A Educação é tema das mais acaloradas discussões na contemporaneidade, seja ligada a temas políticos, filosóficos, sociais e universitários. Tentar compreende-la requer um pouco de entendimento sobre seus "modelos" concebidos, bem como as idealizações que se tem a partir destes.
Tema que permeia toda sociedade, na modernidade nunca esteve livre da alcunha de libertadora da opressão que aflige os povos menos afortunados. Difícil é perceber um discurso político em que a Educação não seja colocada como um dos principais redentores do atraso crônico de várias nações, inclusive o Brasil.
Mas a que se deve esta compreensão redentora da educação?
Neste trabalho, mais importante do que a compreensão deste cientificismo de nossa sociedade que lega ao progresso tecnológico a saída do atraso e conduz a educação por este viés, é a percepção de como este discurso é o manto no qual a educação esta envolvida. Muito mais do que o desenvolvimento do indivíduo é preciso coloca-lo dentro deste mundo e incumbi-lo de uma função que tem por premissa, sua colaboração ao desenvolvimento de seu país; é preciso educa-lo.
A educação é redentora da situação social do indivíduo (quanto mais baixa esta for, pois como diz o ditado popular "o país que constrói escolas, destrói presídios") e, ao mesmo tempo, fornece subsídio ao desenvolvimento das nações, embrenhadas no desenvolvimento tecnológico e na concorrência de mercado.
Desta forma, este trabalho busca mostrar como este discurso esta lançado no meio social, sem a intenção de coloca-lo como certo ou errado, mas de como este pode ditar as diretrizes de todo o sistema educacional de uma nação, que no caso do Brasil, ignora suas diferenças culturais em nome de um desenvolvimento, equacionando as diferenças para tentativa da compreensão de um uno educacional, que enxerga as desigualdades dentro de uma disciplina escolar, mas que não se reflete nesta.
A análise do discurso
Este trabalho vai usar como fonte de análise, os ensaios escritos por um daqueles que mais escreveu e escreve sobre educação no Brasil, o "imortal" membro da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Niskier. Os textos estão compilados em uma obra chamada "A Educação na Virada do Século" publicado pela editora Expressão e Cultura em Maio de 2001, em que constam vários ensaios do ex-presidente da já citada Academia (1997-2000), e que fornecem dados imprescindíveis à análise. Ao todo são 65 ensaios, dos quais faremos uso de alguns, pois o trabalho não comportaria a análise de todos.
A Educação Para Arnaldo Niskier
"Educação
O maior desafio do Brasil do presente
e do futuro, o impulso objetivo para a
redenção nacional..."
Arnaldo Niskier
Hannah Arendt (1), ao apontar aquilo que ela determina como a crise da educação mundial, destaca: "Uma crise só se torna um desastre, quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos" (2). Se tomarmos este viés, fica claro que como esta colocada à educação no Brasil, sem entrarmos nos trâmites das diferenças que se põem nos projetos que a concebem, perceberemos que a discussão não parte sobre aquilo que possa ser determinantemente novo, mas de como o que já esta concebido, deve ser melhor aplicado.
Se "... a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo. " (3), é a consciência que imputa à criança o status do novo, através da educação, quando esta está voltada a política (reconhecida naquilo que concebemos como projeto do Estado), de novo nada oferece, somente a perpetuação daquilo que já existe, através de uma doutrinação no mínimo tirânica (4).
Arnaldo Niskier ao tratar a educação no Brasil, não esta pensando sobre a concepção da mesma, pois esta já esta dada: "A educação científica é a educação do futuro" (5). Não é a discussão sobre a mesma, mais que formas ela deva ser aplicada a determinado fim. A educação esta voltada inteiramente ao progresso tecnológico de nossa civilização e o país que neste quadro não se inserir estará condenando a si e a seus cidadãos ao fracasso e a miséria.
Daí percebermos que o novo, aí colocado, é a tecnologia e não a educação em si. É preciso inserir as crianças em um sistema de aprendizado que não tem ligação com o desenvolvimento intelectual, apenas técnico, na medida em que a educação deve voltar-se para preparação e qualificação da mão de obra do "futuro".
Se a tecnologia é o novo, a qualificação da mão de obra esta presa a uma concepção muito mais antiga, ainda inserida no projeto de Estado e que remonta a introdução das indústrias automobilísticas no Brasil dos anos 50 e 60. "Estamos de olhos postos no século XXI e imaginando as transformações que deverão ocorrer no campo da educação. Passaremos da Era Industrial para a Sociedade da Informação - e isso não se faz sem profundas mudanças" (6).
Perceba que a condição de novo esta dada pela tecnologia e as mudanças da educação pensada a partir desta e não a partir do indivíduo, pois o destino deste já está sacralizado; engrenagem que movimenta a máquina, mais que antes foi preciso alimenta-lo das habilidades específicas necessárias. O que há de novo nisto?
A tecnologia já esta colocada desde a invenção das máquinas de tecer a vapor. A incorporação do indivíduo ao processo de produção é muito mais antiga ainda. O que a sociedade da informação, determinada como globalizada clama para si é a proximidade relativa dos indivíduos que se comunicam com o mundo todo ao simples toque de um teclado, e a grande vedete do mundo moderno é a capacidade de se informar mais em menos tempo. Mas daí temos uma relação no mínimo, muito estranha. O indivíduo capacitado a sua performance no mundo globalizado, como parte da engrenagem, está sendo alimentado pelas milhares de informações despejadas pela globalização. No entanto, como este indivíduo a pensa? Exatamente como parte da engrenagem. Daí o indivíduo é preparado à nova sociedade somente sob um aspecto, e por mais absurdo que pareça, o da doutrinação, que se olharmos, esteve ligada a sua educação.
A educação pensada por Niskier desenvolveu meios para pensar este mundo tido como novo? Não! Apenas assim o adjetivou; demonstrou como o indivíduo deve se encaixar nele de forma a retro-alimenta-lo. É a reprodução de si mesmo em diferentes meios, neste caso dado pela tecnologia, já percebida que se instrumentada aos indivíduos através da educação, é tida como redentora das nações. Segundo o autor:
"Devemos estar preparados, como os norte americanos, para um ambiente de contínua aprendizagem. Treinamento e retreinamento são políticas hoje essenciais ao país, razão que torna a modalidade nascente entre nós de "educação a distância", amplamente aconselhável. ...e será talvez a maior inovação da educação brasileira no início do terceiro milênio, pois poderá se valer de recursos de extraordinário alcance, como é o caso do satélite doméstico de telecomunicações." (7)
"O mecanismo a ser estabelecido (a educação a distância) poderá ser útil na educação especial e certamente terá uma prioridade inescapável: pensar a formação e o treinamento de professores e especialistas, nossa prioridade nº 1." (8)
Se por um acaso, na citação acima, nós trocássemos a palavra educação por capacitação técnica, perceberíamos que o sentido da frase, do conteúdo e finalidade das idéias não se alteraria; gostaria de lembrar que, ensino a distância no Brasil não é algo novo, e que o Instituto Universal Brasileiro já o faz há muito tempo; a única diferença são os meios.
Na segunda citação, note que a concepção de educação quando alcança os patamares do ensino universitário, também deve estar voltada as finalidades anteriormente estabelecidas. A formação universitária deve capacitar os profissionais a ensinar ou reproduzir a educação voltada ao mercado de trabalho. Umas das mais inquietadoras citações do livro são as referentes ao ensino superior, que como dito anteriormente, possui sua função. Vejamos como o autor observa o que seria a salvação contra a desvalorização crescente da pós-graduação no Brasil.
"As pesquisas devem existir e se ligar ao setor produtivo. Assim haverá melhores resultados e não se justificará qualquer corte de verbas que sacrifique esse esforço fundamental." (9)
Gostaria de perguntar ao autor sobre a pós-graduação das Ciências Humanas. Deveriam deixar de existir já que dificilmente se encaixam no setor produtivo?
Esta concepção sobre a educação não é exclusiva de Niskier e um dos maiores defensores sobre este modelo voltado para a tecnicidade necessária ao mercado e que deve buscar favorecer e inserir os menos favorecidos na sociedade de formas mais satisfatórias é Darcy Ribeiro, um dos autores da lei que estabeleceu os cursos seqüenciais universitários que busca poder abranger um maior número de pessoas e capacita-las ao setor produtivo.
É lógico que a discussão é muito mais abrangente e o buraco um pouco mais abaixo no que diz relação aos cursos seqüenciais, pois o que percebemos é que estes tipos de curso estão se alastrando pelo país, mas por via das universidades particulares que prezam muito mais a conta corrente do aluno do que sua formação, o que afirmo sem a mínima demagogia, e não estou passando pela questão da qualidade, pois como já observado por J. M. Azanha em "Democratização do Ensino: Vicissitudes da Idéia no Ensino Paulista", esta discussão sobre qualidade é muito perigosa, pois poderíamos incorrer no perigo de querer nivelar todo o ensino com base em uma educação oferecida a muitos poucos ou aqueles únicos que podem pagar por ela.
A finalidade dos cursos seqüenciais não é atingida subvertendo sua aplicação, servindo até o momento apenas para captação de dinheiro para as escolas de ensino superior privadas, usando-se da propaganda de um curso rápido e de nível universitário. Perfeito para a demanda da sociedade moderna e globalizada de Niskier. Produto embalado e pronto para a venda que possui apenas um inconveniente: o termo Educação na embalagem.
Conclusão
Minha idéia neste trabalho não foi determinar o certo ou errado nestes conceitos, mesmo que não conseguindo escapar a algumas observações que provocadamente se fizeram necessárias, mas tentar perceber o conceito de educação ali envolvido e de como a partir deste, os modelos se desenvolvem e se contradizem. Contradizem-se porque no âmago, a formação do indivíduo esta pensada para a finalidade do mercado produtivo e não de auxilia-lo a desenvolver meios para pensar este. Não cria algo de novo, excetuando-se os meios, mas que apenas reproduz a si mesmo, por meio de uma concepção que confere a educação à função de redentora das mazelas do país.
Acredito que a capacitação técnica seja necessária, pois não há como desta se eximir, visto que estamos inseridos "até o cabelo" neste modelo; entretanto, precisamos discutir o conceito de educação utilizado em nosso país. Qual sua finalidade?
Se realmente for apenas a capacitação e a inserção menos incomoda do cidadão na sociedade, engrenagem do sistema produtivo, então me calo. Mas se educação como à concebo, está direcionada ao pensamento, a sua transmissão através de uma das coisas mais simples do homem, mais que tanto vem se colocando de lado, o da relação, já tão gritante em Vigotsky, não há como se calar. É preciso que estejamos repensando, como educadores que somos, o que queremos da educação e a partir daí colaborar para que aquilo que acreditamos como o necessário, sem sistema, sem produção, sem inserção ao mercado, apenas a relação do homem consigo mesmo e a partir daí, seu mundo, sempre repensando-o.
Notas
1 - Hanna Arendt. Pág. 221-245.
2 - Idem, pág. 223.
3 - Ibdem, pág. 223.
4 - Ibdem, pág. 225. “Mas mesmo ás crianças que se quer educar para que sejam cidadãos de um amanhã utópico é negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo, pois do ponto vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo, é necessariamente mais velho do que eles mesmos.”
5 - Niskier, Arnaldo. A Educação na Virada do Século. Ed. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1ª ed., 2001. Pág. 24.
6 - Idem, ensaio “O Modelo da Era da Informação”, pág. 169.
7 - Ibdem, ensaio “A Educação de Amanhã”. Pág. 29.
8 - Ibdem, ensaio “A Hora do Satélite”. Pág. 203.
9 - Ibdem, ensaio “Pós-graduação não é emprego.” Pág. 22.
Bibliografia
Arendt, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. Ed. Perspectiva, São Paulo, 2001.
Azanha, José M. Educação: alguns escritos. São Paulo: C.E. Nacional, 1982.
Niskier, Arnaldo. A Educação na Virada do Século. Ed. Expressão e Cultura. São Paulo, 2001.
FONTE:http://www.klepsidra.net/klepsidra12/arnaldoniskier.html
sábado, 9 de julho de 2011
Revista Crítica de Ciências Sociais,
79, Dezembro 2007: 57-77LUIZ INÁCIO GAIGER
A outra racionalidade da economia solidária.
Conclusões do primeiro Mapeamento Nacional
no Brasil
O artigo examina os resultados empíricos do primeiro levantamento nacional sobre
a economia solidária realizado no Brasil, que coletou dados sobre quase 22 mil
experiências. Seu objetivo é verificar em que medida esses empreendimentos, por
se tratar de organizações fundadas na livre associação de trabalhadores, na cooperação
produtiva e em princípios de autogestão, adotam uma racionalidade distinta
e contraposta sob certos aspectos à lógica econômica intrínseca à acumulação
contínua de capital. A análise centra-se nas relações entre indicadores de solidarismo
interno e externo dos empreendimentos e indicadores de eficiência e viabilidade
econômica. Como resultado, embora debilidades e limites sejam identificados
nessas experiências, é perceptível sua tendência geral a realizarem os seus fins, de
preservação da vida em condições dignas, através da participação democrática e
da reciprocidade.
Desde meados dos anos 1980, assiste-se no Brasil e em outros países ao
florescimento e ao gradativo fortalecimento de iniciativas de trabalhadores
no campo econômico, fundadas no associativismo e na cooperação. Embora
menosprezadas até alguns anos atrás, essas experiências converteram-se em
alternativas duradouras para um número crescente de trabalhadores. Aos
poucos, de suas diferentes vertentes originais, estabeleceram campos de
diálogo e de criação de uma identidade comum, expressa em inúmeros
movimentos organizados, com destacada atuação nas edições do Fórum
Social Mundial. A economia solidária estabeleceu-se ao Sul e ao Norte,
como ator social, como item da agenda política e como tema de estudos
(Cattani, 2004), despertando a atenção para a importância de ser conhecida
e compreendida de modo abrangente e fundamentado.
Trabalho desenvolvido com apoio do CNPq, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Agradeço a assistência estatística da
Prof.ª Patrícia Kuyven.
58
| Luiz Inácio GaigerUm levantamento amplo sobre a economia solidária acaba de realizar-se
no Brasil. Conhecido como
pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária e pelo Governo Federal, com
o apoio de universidades, instituições de pesquisa e ONGs. Em 2006, o
término da etapa principal de coleta de informações resultou em uma base
de dados sobre 15 mil
uma população estimada de 1,2 milhão de participantes, em todos
os Estados do país e em 41% dos municípios. Em fins de 2007, uma pesquisa
de campo complementar propiciou a inserção de mais sete mil empreendimentos
na base de dados.
Esse artigo explora os resultados já consolidados da base gerada em 2006,
tendo em vista uma questão central dos estudos acadêmicos e do debate
público: a caracterização dos empreendimentos de economia solidária como
portadores de uma
os seus recursos produtivos, humanos e materiais. Isto, por se tratar de
primeiro Mapeamento Nacional, foi idealizadoEmpreendimentos de Economia Solidária (EES), envolvendoracionalidade específica, relativa ao modo como ativamsociedades de pessoas
tais como a indivisão entre proprietários e trabalhadores, a gestão
coletiva e o engajamento em movimentos e redes, alinhadas hoje em uma
mobilização internacional de construção da identidade política da economia
solidária (Mendel, 2003).
As diferenças estruturais entre as empresas capitalistas e as empresas
cooperativas e autogestionárias são reconhecidas de longa data pela literatura
(Jones, 1978; Defourny, 1988; Namorado, 2005). A presença de
uma racionalidade distinta da capitalista, orientada à preservação da
vida, já foi evidenciada em estudos comparativos sobre a economia solidária
(Santos 2002; Novaes, 2005; Gaiger, 2006, 2007) e sustenta as
expectativas quanto ao fato de ela materializar princípios de
portadora de um projeto substitutivo dos atuais modelos de desenvolvimento
(Cattani, 2004). O Mapeamento oportuniza uma volta privilegiada
ao tema, ao oferecer uma base empírica ineditamente
representativa das experiências atuais no Brasil. Este artigo a examina
com um duplo objetivo: primeiramente, o de aplicar técnicas quantitativas
de análise para identificar as características predominantes e os elementos
que estruturam os EES, de modo a verificar em que medida sustentam a
hipótese de uma racionalidade específica, como tendência
isso, fundamental – da economia solidária. Em segundo lugar, tenciona‑se
exemplificar como essa base de dados pode ser utilmente explorada e
sugerir prismas para análises tópicas mais aprofundadas, mediante cotejo
com os resultados de pesquisas qualitativas, bem mais usuais nesse campo
de estudos.
– não de capitais – e possuírem características singulares,outra economia,geral – e porA outra racionalidade da economia solidária |
59O artigo inicia com algumas considerações sobre o conceito de racionalidade,
a fim de elucidar preliminarmente seu conteúdo e a pertinência de sua
abordagem. A seguir, esclarecimentos sobre as características da base de
dados do Mapeamento servem para indicar sua validade e precisar o método
adotado para a análise desenvolvida nas seções subseqüentes do texto, a
partir de três questões sucessivas: a) antes de tudo, os EES apresentam características
consistentes que permitam classificá-los como agentes econômicos
moldados pelo associativismo e pela cooperação produtiva? b) em segundo
lugar, existem incidências positivas e orgânicas entre a dimensão solidária e
a dimensão empreendedora dos EES, capazes de instaurar uma lógica singular
e circular, a um só tempo social e econômica? c) por fim, que relevância
essa lógica possui para a estrutura dos EES e de que modo tende a acentuar-
se com o desenvolvimento da práxis econômica solidária? As respostas
a essas questões, a nosso ver, permitirão avaliar em que medida os EES
caracterizam-se como experiências dotadas de uma racionalidade singular,
na qual a reciprocidade constitui um esteio primordial da ação econômica.
Ao centrar-se na totalidade dos empreendimentos mapeados, a análise
deixa de fazer referências a exemplos concretos e de trazer diretamente à
baila a notória diversidade da economia solidária no Brasil, quanto aos
setores econômicos, às categorias sociais envolvidas e às formas de organização.
Essa diversidade, relevante, seria de consideração indispensável em
análises subseqüentes, sugeridas ao final do texto.
Economias e racionalidades
Uma compreensão estreita e discriminatória da economia domina o nosso
senso comum, graças a três reducionismos introduzidos desde o séc. XIX
pela economia neoclássica e seus axiomas utilitaristas: a) a redução de
toda economia à economia de mercado; b) a redução de todo mercado
ao mercado auto-regulado; c) a redução de toda empresa econômica à
empresa capitalista (Laville, 2004). Nessa ótica, quem não pertence a esses
setores é visto como sinal de atraso ou ineficiência e relegado a um papel
secundário; para os pobres, restaria uma espécie de economia de sobrevivência
com funções sociais, de freio à marginalização, mais do que propriamente
econômicas.
Ora, ao longo da história uma ampla parcela das atividades econômicas,
geradora de riqueza e de bem-estar, esteve à margem ou em relação indireta
com o sistema produtivo e o mercado capitalista, valendo-se antes dos seus
recursos autóctones e de circuitos locais, no “andar térreo da civilização”
segundo a conhecida formulação de Fernand Braudel. A sobrevivência e a
prosperidade de importantes segmentos da população estiveram garantidas
60
| Luiz Inácio Gaigerpor práticas e estruturas de produção e de troca orientadas por lógicas
internas de outro tipo (Coraggio, 1999; Santos, 2002). No Brasil, parte
expressiva da riqueza nacional provém dessas atividades, como é patente
no caso da pequena produção agrícola, cujo desempenho nos anos recentes
evidencia uma capacidade de modernizar-se e tornar-se mais produtiva, sem
perder o seu caráter familiar. Tampouco os segmentos mais pobres estão
desprovidos de iniciativas e de estratégias econômicas de eficiência apreciável
(Abramovay, 2004).
Outras economias, produtivas e orientadas ao intercâmbio de bens, existiam
antes da disseminação das relações capitalistas. Desse ângulo, o capitalismo
é que representou a introdução de outra economia, gradativamente
sobreposta a formas econômicas pré-existentes, taxadas de pré-capitalistas
como se fossem mero preâmbulo da economia dita superior do capital.
Diante do advento das relações capitalistas, os trabalhadores reagiram de
várias formas, combatendo a exploração no interior da empresa capitalista,
criando alternativas de caráter associativo (Singer, 1999) ou defendendo
seus sistemas de vida próprios, seu patrimônio produtivo e seus saberes,
contra a ameaça de espoliação e de subordinação do capital.
A depender dos critérios de análise, considerar a forma capitalista mais
moderna, no sentido de superior, perde o seu sentido. Basta que se abra mão
do axioma do crescimento e da máxima rentabilidade, ou do próprio paradigma
do desenvolvimento, para que as coisas mudem de figura. A alternativa
de agir coletivamente manteve-se e renovou-se entre os trabalhadores, gerando
o cooperativismo operário no séc. XIX, o associativismo e a economia social na
passagem ao séc. XX, a economia solidária na entrada do séc. XXI, por uma
razão fundamental: brindar segurança, reconhecimento e vida significativa à
imensa maioria de pessoas que vivem primordialmente da sua capacidade de
trabalho. Tais experiências, em alguns casos, produziram relações sociais antagônicas
ao capitalismo; em muitos outros casos, preservaram relações sociais
não capitalistas, atenuando assim a sujeição dos trabalhadores à economia
dominante e conjurando o exclusivismo das relações assalariadas de subordinação
e expropriação, a eles reservadas como via de integração social.
Para esses indivíduos, não fossem as circunstâncias instituídas pelo capital,
pouco sentido haveria em lidar com uma economia exógena e contraposta
ao trabalho, muito menos partilhar o senso comum sobre a sua superioridade.
Desde as suas origens modernas, coube à reciprocidade cumprir
um papel vital de alargamento da experiência humana de reprodução da
vida, ao contrapor-se às determinações e às limitações impostas pela racionalidade
estrita do capital. Mantiveram-se assim vigentes outros princípios
e outras lógicas de organização do trabalho, de criação de bens e de cir
outra racionalidade da economia solidária |
A61culação da riqueza, ao lado da economia de mercado capitalista, configurando
uma
(Lévesque
O cenário atual apresenta desafios consideráveis à economia solidária,
pois o leque de carências e de aspirações humanas amplia-se, frustrando-se
ao mesmo tempo a esperança de serem atendidas através da lógica de produção
incessante de mercadorias. Esta lógica introduz requisitos cada vez
mais exigentes de competências, inovação e desempenho competitivo, para
a viabilidade das empresas capitalista e das formas alternativas de produção.
O valor da economia solidária, para os trabalhadores que nela apostam,
depende então de sua capacidade de responder aos requerimentos de eficiência
– não somente econômica, mas
experiências significativas de trabalho, assentes na eqüidade e em
vínculos sociais não utilitários.
Essa relação orgânica entre a dimensão solidária, de autogestão e de
cooperação no trabalho, e a dimensão empreendedora, de organização e
gestão dos fatores produtivos com vistas à realização das metas dos empreendimentos,
é o que constitui a sua
O termo significa que as práticas em tela são concomitantes e entrelaçam-se,
estabelecendo uma dinâmica objetiva para a ação dos indivíduos, uma pressão
estrutural para que procedam de uma dada maneira, precisamente porque,
no contexto assim criado, tal conduta assevera-se mais lógica. O êxito dos
empreendimentos fica então vinculado a fatores cujo efeito positivo decorre
do caráter socialmente cooperativo por eles incorporado. Institui-se uma
economia plural, nos termos da Nova Sociologia Econômicaet al., 2001).sistêmica – e promover simultaneamenteracionalidade específica (Gaiger, 2004b).comunidade de trabalho
(Gaiger, 2004b; 2006). De forma sistemática, exploram-se os ativos potenciais
propiciados pela união dos trabalhadores, valendo-se do fato de que
, que passa a co-determinar a racionalidade econômicaum elemento comunitário, de ação e gestão conjunta, cooperativa e solidária, apresente
no interior dessas unidades econômicas efeitos tangíveis e concretos sobre o
resultado da operação econômica. Efeitos concretos e específicos nos quais se possa
A eficiência sistêmica compreende a capacidade de promover a qualidade de vida das pessoas e
propiciar bem-estar duradouro para a sociedade. Abrange os benefícios sociais, não meramente
monetários ou econômicos, para os membros e o entorno das organizações em questão, a garantia
de longevidade para as mesmas e a criação de externalidades positivas sobre o ambiente natural
(Gaiger, 2004a).
Esse agenciamento dos recursos produtivos dos trabalhadores diferencia-se das modalidades
predominantes da economia popular, cujos vínculos de reciprocidade nem sempre refletem princípios
igualitários e democráticos e na qual estão em jogo necessidades imediatas de sobrevivência
ou, quando muito, a preservação de meios de subsistência, num quadro inalterável de pobreza
e dependência.
62
| Luiz Inácio Gaigerdiscernir uma particular produtividade dada pela presença e crescimento do referido
elemento comunitário, análoga à produtividade que distingue e pela qual se
reconhecem os demais fatores econômicos. (Razeto, 1993: 40-1)
Ao darem-se as mãos, os trabalhadores fortalecem seu poder de ação e
aumentam suas chances de resolverem problemas e realizarem projetos.
Sem essa expectativa, a economia solidária seria inexplicável. Mas sem lograr
esse objetivo razoavelmente, ela seria apenas uma idealização de dias contados.
Portanto, desse desafio depende a resposta a muitas outras questões,
a respeito da força de expansão e do significado histórica da economia
solidária. Por isso, as explorações dos dados do Mapeamento devem indagar
se os empreendimentos de economia solidária retiram da participação
e da cooperação a sua força econômica, instaurando uma relação de simbiose
entre solidarismo e eficiência. É plausível falar de
inspiradas em valores e induzidas simultaneamente por uma lógica
objetiva singular dos empreendimentos?
outra economia, de práticasO Mapeamento e a validação dos dados
O crescimento da economia solidária no Brasil é um fato notável nas duas
últimas décadas, relatado em estudos panorâmicos (França Filho
2006; Gaiger, 2007) e confirmado pelo Mapeamento: 87% dos EES registrados
tiveram início posterior a 1990, 35% após 2002. Ao mesmo tempo,
a articulação gradativa dos empreendimentos e das organizações de apoio
resultou em estruturas representativas da economia solidária, culminando
com a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, em 2003.
A economia solidária converteu-se em tema de estudos acadêmicos, alimentando
as perspectivas de um pensamento crítico orientado desde o Sul
(Cattani, 2004; Coraggio, 2007), e passou a constar da agenda de governos
municipais e estaduais. Com a vitória de Lula, em 2003, instalou-se a Secretaria
Nacional de Economia Solidária, incumbida, em conjunto com o
Fórum, de idealizar e realizar o Mapeamento. Uma meta louvável do Mapeamento
foi atingir, o mais possível, as experiências solidárias desconhecidas,
não integradas aos circuitos de reconhecimento da economia solidária, para
dar voz a seus protagonistas. A tarefa envolveu cerca de 230 entidades e
mais de 600 técnicos e entrevistadores.
et al.,O Fórum Brasileiro foi criado na III Plenária Nacional da Economia Solidária, com mais de 800
representantes, delegados das 18 plenárias estaduais. Seu papel consiste em articular e mobilizar
as bases sociais da economia solidária pelo país, a partir de sua Carta de Princípios e de sua Plataforma
de Lutas, e fazer a interlocução com o governo, em especial a Secretaria Nacional da
Economia Solidária.
A outra racionalidade da economia solidária |
63Por sua abrangência, o Mapeamento viabiliza uma mudança de escala
nos trabalhos acadêmicos e nos debates sobre a economia solidária. Até
então, a inexistência de dados objetivos e abrangentes sobre as experiências
de economia solidária no país limitou os estudos a uma abordagem qualitativa,
valiosa para o exame dos traços particulares dessas iniciativas, mas
insuficiente para identificar suas tendências predominantes e seu impacto
sobre as condições de vida dos trabalhadores. Os dados do Mapeamento,
integrados ao Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária –
SIES, oferecem uma visão ampla do perfil econômico, social e político da
economia solidária. As perguntas formuladas, sobre os membros dos EES
e as circunstâncias de sua criação, suas atividades econômicas, sua organização
e gestão, seus vínculos e sua atuação social, produziram uma massa
de informações passível de análise sob diversos ângulos, quanto à gênese e
aos padrões de desenvolvimento dos EES, além de fundamental para a
seleção judiciosa de casos a serem estudados qualitativamente.
Tratar os dados do SIES sob o prisma da racionalidade intrínseca aos
empreendimentos requer um dispositivo analítico apropriado, de modo a
abarcar o maior número de informações relacionadas ao tema e dar margem
ao contraditório, contido nas informações colhidas ou na sua (aparente)
inconsistência. O método adotado com esse propósito foi uma extensão
dos procedimentos empregados numa etapa preliminar, de crítica e de validação
da base de dados. Essas tarefas prévias eram indispensáveis, pois as
características do Mapeamento o diferenciam de uma pesquisa convencional
e o expuseram a distorções, da identificação do seu universo até o
registro e a transmissão dos dados. Os dados sofreram então um processo
Os dados finais do Mapeamento ainda não estavam disponíveis quando da redação desse artigo,
que se vale da base consolidada de 2006. Para uma caracterização muito breve: 54,5% dos EES são
associações, 32,7% funcionam como grupos informais e 10,7% são cooperativas. As atividades coletivas
mais comuns são a produção (61%), a comercialização (57%) e o uso de equipamentos produtivos
(48%). A fisionomia rural da economia solidária é visível, uma vez que 64% dos EES dedicam-se
à agricultura, pecuária, pesca ou extrativismo. Seguem-se os setores de prestação de serviços (14%),
alimentos (produção, beneficiamento e serviços – 13 %), têxtil, confeções e calçados (12%), artesanato
(9%), indústria de transformação (6%), coleta e reciclagem (4%) e finanças (2%). O retrato da
economia solidária revelado pelo Mapeamento teve considerável difusão, através do
Solidária
O que contribuiria para superar a abordagem corrente, empirista e intuitiva, dos métodos de
estudo de caso, que se contenta em escolher o que subjetivamente parece mais relevante ou está
mais à mão do pesquisador.
A falta de uma relação preliminar dos EES existentes no território nacional, devido à notória
insuficiência de informações prévias, representou um obstáculo considerável. A listagem foi então
elaborada a partir de cadastros parciais e de informações diretas. O Mapeamento equivale tecnicamente
a um levantamento amplo de informações, não a um censo ou a uma pesquisa amostral.
O tratamento dos dados foi coordenado pelo autor desse artigo e por Hérton Araújo, do Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicadas.
Atlas da Economia, publicado em abril de 2006 e das opções de acesso ao SIES (www.sies.mte.gov.br).64
| Luiz Inácio Gaigerde retificação, mediante testes de consistência que resultaram na criação de
novas variáveis e em reclassificações de respostas. Dentro de patamares
razoáveis de confiabilidade, a base de dados do SIES foi validada.
Mas além de verificar o atendimento a requisitos técnicos, a crítica dos
dados serviu para mensurar o grau de correspondência entre as experiências
mapeadas e o conceito teórico de
Com isso, aportou uma conclusão preliminar decisiva para os objetivos
desse artigo.
Para serem mapeados, os EES deviam satisfazer seis requisitos: a) constituírem
organizações suprafamiliares permanentes; b) sob propriedade
ou controle dos sócios-trabalhadores; c) com emprego ocasional e minoritário
de trabalhadores não-associados; d) com gestão coletiva das suas
atividades e da alocação dos resultados; e) com registro legal ou informais;
f) de natureza econômica, direcionada à produção, comercialização, serviços,
crédito ou consumo. Uma bateria de testes de consistência buscou
identificar os empreendimentos registrados em desacordo com esses parâmetros.
As iniciativas situadas fora do escopo previsto ou não seriam
organizações econômicas permanentes e suprafamiliares ou, mesmo o
sendo, não funcionariam de modo minimamente autogestionário ou com
vistas à sua viabilidade econômica. Poderiam representar formas habituais
ou momentâneas de solidariedade, praticadas por indivíduos e por famílias
detentores dos seus negócios, mas não organizações instituídas por meio
de um ato associativo deliberado entre indivíduos, ou seja, de
empreendimentos de economia solidária.empreendimentossolidários, cujo alastramento confere a novidade e a importância
da economia solidária.
Ante nossas categorias de análise, as organizações incluídas indevidamente
no SIES faltariam com os requisitos mínimos de uma racionalidade
ao mesmo tempo
que a união e a inteligência coletiva dos trabalhadores são mobilizadas como
recursos fundamentais para que os EES lidem com a realidade contingente
e logrem sua sobrevivência, gerando benefícios à comunidade de pessoas
neles implicadas. Por certo, tal lógica não se destina a produzir novos empresários
dispostos a correr os riscos inerentes aos jogos da acumulação do
capital, mas a prover e repor os meios de vida. Metas improváveis na ausên-
empreendedora e solidária. Essas dimensões significamA inexistência de uma listagem consolidada e o perfil heterogêneo dos entrevistadores de campo
justificavam esse cuidado, sendo de esperar, por exemplo, a inclusão indevida de organizações
sociais ou filantrópicas sem atuação econômica, ou de empreendimentos não conduzidos efetivamente
pelos sócios-trabalhadores. A base conceitual e a metodologia do Mapeamento constam
do Atlas da Economia Solidária no Brasil e de outros documentos de referência disponíveis em
www.sies.mte.gov.br.
A outra racionalidade da economia solidária |
65cia de um projeto comum forjado pela experiência do trabalho, a partir do
qual se exerce a criatividade, cultivam-se vínculos nao‑utilitarios e realiza-se
o aprendizado (Gaiger, 2004b).
Quanto mais freqüentes os casos de inobservância desses requisitos pelos
EES, mais distantes estaríamos da hipótese de existência de uma lógica
baseada na conjunção daquelas duas dimensões. Sendo tais casos predominantes
entre as 15 mil experiências registradas no SIES, o próprio conceito
de economia solidária estaria sujeito a cair por terra. O primeiro teste
consistiu em examinar os EES cujas declarações não condiziam com aqueles
requerimentos. Estando esses casos associados entre si e a situações não
aleatórias, revelariam debilidades sistêmicas da economia solidária. Se, ao
contrário, essas
no teste. Portanto, uma contraprova, no sentido de expor à falsificação as
inferências feitas a partir dos dados
Dez hipóteses foram examinadas, concluindo-se que os EES em geral
apresentam práticas solidárias e empreendedoras acima de um patamar
mínimo e atendem ao marco de referência do SIES. Certas fragilidades
apareceram, como a falta de recursos e de infra-estrutura, fatores de dependência
das iniciativas de economia solidária, ou o baixo grau de envolvimento
dos associados na vida cotidiana de alguns empreendimentos, acarretando
riscos de cisão entre o corpo diretivo e a base social. Por outro lado,
sobressaíram-se aspectos positivos, como a existência de mecanismos democráticos
e a ampla predominância dos sócios na direção e na execução das
atividades, além da participação freqüente em mobilizações sociais.
Para uma avaliação mais abrangente e conclusiva, foram construídos dois
coeficientes, de
a partir de indicadores de práticas ou situações
examinadas nas hipóteses anteriores. O objetivo era aferir se essas práticas
ou situações são fatos isolados ou vinculados entre si. Uma espécie de
hipóteses negativas fossem rejeitadas, os EES teriam passadofavoráveis à economia solidária.baixo empreendedorismo e de baixo solidarismo, formadosnegativas, semelhantes àquelasmalha fina
os EES seriam. Quanto mais freqüentes as pontuações elevadas, mais
comprometida ficaria a natureza alternativa dos EES e deveríamos admitir
que a economia solidária no Brasil esteja longe de conter elementos efetivos
de outra lógica social e econômica.
O desempenho global dos EES mostrou-se satisfatório, no que tange a
não possuírem propriedades ou exercerem práticas cabalmente indicadoras
da ausência de empreendedorismo ou de solidarismo: 93,7% deles incidem
: quanto maior a sua pontuação, menos empreendedores ou solidáriosExceto se ficasse demonstrado que os
sem qualquer evidência empírica.
autênticos empreendimentos não foram mapeados, algo66
| Luiz Inácio Gaigerno máximo em 6 indicadores, dos 18 utilizados, e apenas 0,5% incidem em
9 indicadores ou mais. Existem EES muito frágeis ou em situações contraditórias
com o conceito de economia solidária. Porém, como todas as frações
referentes aos EES com elevado coeficiente de baixo empreendedorismo ou
de baixo solidarismo são inferiores a 1,5%, pode-se dizer que o SIES, salvo
tais exceções, registra experiências classificáveis como de economia solidária.
Apesar da aparente redundância, conclui-se que o conceito de economia
solidária, no sentido de um conjunto de práticas guiadas por uma racionalidade
que concilia solidariedade social e viabilidade econômica, encontra
um suporte expressivo na realidade empírica captada pelo Mapeamento.
Altos e baixos do desempenho solidário e empreendedor
Esse resultado ainda é parcial. Diante da primeira questão indicada na
Introdução, sobre os traços singulares e consistentes dos EES, é necessário
averiguar se os mesmos ficam rentes aos níveis mínimos de empreendedorismo
e solidarismo ou os superam em graus razoáveis, com bons indicadores
positivos
pronunciados em indicadores exigentes, apropriados a uma
concepção avançada de economia solidária.
Para essa avaliação, utilizou-se um dispositivo metodológico tecnicamente
similar ao anterior, mas de conteúdo oposto: os EES foram analisados
segundo sua pontuação em coeficientes de
solidarismo
. Seu desempenho será mais convincente se apresentarem quocientesalto empreendedorismo e de alto, compostos cada um deles por nove indicadores. Como o adjetivoalto
um conjunto de requisitos acima das condições esperadas da maioria dos
EES; pontuar em vários indicadores exige desenvoltura em muitas frentes,
ficando atendido o objetivo principal da análise.
deixa a entender, pontuar em cada indicador implica responder a10• Coeficiente de
1. Recursos produtivos a montante de propriedade do empreendimento
2. Sede, equipamentos e espaço principais de comercialização próprios
3. Comercialização principal no mercado estadual, nacional ou internacional
4. Visão estratégica e ausência de dificuldades de comercialização
5. Capacidade de captação de crédito para investimento
alto empreendedorismo:10
alternativamente. Como os indicadores de
utilizadas pelos indicadores de
em dois pólos dicotômicos, conforme tenham respondido
outro lado, essa técnica nem sempre permite escolher os melhores indicadores do ponto de vista
conceitual, pois é necessário ater-se às informações disponíveis na base de dados.
Cada indicador relaciona-se a um conjunto de questões afins, consideradas simultaneamente oualto desempenho não recaem nas mesmas variáveisbaixo desempenho, evita-se dividir tautologicamente os empreendimentossim ou não às questões. PorA outra racionalidade da economia solidária |
676. Geração de sobra líquida e independência de financiamentos
7. Remuneração e vínculo regulares dos trabalhadores sócios e não-sócios
8. Investimento na formação de recursos humanos
9. Férias ou descanso semanal para os sócios-trabalhadores
Os itens avaliados dizem respeito ao grau de autonomia material (1 e 2),
à abrangência e ao êxito da comercialização (3 e 4), a inversões em prol da
consolidação dos EES (5 e 8), à geração de excedentes (6) e ao patamar de
distribuição dos resultados para os sócios (7 e 9).
• Coeficiente de
1. Coletivização da produção ou do trabalho
2. Decisões coletivas tomadas pelo conjunto de sócios
3. Gestão de contas transparente e fiscalizada pelos sócios
4. Participação cotidiana na gestão do empreendimento
5. Matérias-primas ou insumos principais de origem solidária
6. Comercialização solidária e preocupação com os consumidores
7. Participação em movimentos sociais e em ações sociais ou comunitárias
8. Participação em redes políticas ou econômicas solidárias
9. Ações de preservação do ambiente natural
alto solidarismo:Os quesitos avaliados relacionam-se ao grau de cooperação produtiva (1),
à participação e democracia na gestão (2, 3 e 4), às práticas solidárias de
comercialização (5 e 6), ao engajamento social e político (7 e 8) e à contribuição
para o desenvolvimento sustentável (9).
Os indicadores de alto empreendedorismo foram atingidos em média
por 8,7% dos EES.
e um terço atende apenas a um indicador. Somente 5% atendem a
três indicadores ou mais. No tocante ao alto solidarismo, os percentuais de
satisfação dos indicadores são superiores, alguns acima de 25% e na média
geral 22,2%, refletindo-se no desempenho global superior dos EES: apenas
15% não pontuam em nenhum indicador; 31,8% pontuam em 3 indicadores
ou mais; 5,3%, em 5 indicadores ou mais (contra apenas 0,4% no alto
empreendedorismo).
11 Quase a metade dos EES não preenche nenhum indicador1211
em que certos quesitos embutidos nos indicadores são inaplicáveis. Tal correção não afetaria as
conclusões gerais aqui apresentadas.
Esses percentuais referem-se à totalidade dos EES e seriam maiores se desconsiderassem os casos12
a consistência do instrumento: por um lado, os perfis de baixo e de alto desempenho excluem-se;
por outro lado, em apenas 15 casos a pontuação simultânea dos EES em ambos os coeficientes
chega a 9, isto é, a 50% da pontuação teórica máxima.
Cruzamentos complementares entre os coeficientes de alto e de baixo desempenho comprovaram68
| Luiz Inácio GaigerAssim concebidos, os indicadores de alto desempenho têm a faculdade
de apontar os atuais pontos de estrangulamento dos EES. No quesito
empreendedorismo
recursos humanos, na obtenção de crédito para investimento, na concessão
de férias ou descanso semanal para os trabalhadores e na estrutura de comercialização.
Deficiências relacionadas não tanto ao funcionamento diário dos
EES, mas a
pelo mercado e reduzindo sua capacidade de gerar excedentes que
garantam autonomia econômica, retribuições aos trabalhadores, coesão e
qualificação do quadro de sócios. No quesito
são a participação em redes, o comércio e o consumo solidários. Aqui, trata-se
de limites nos
de articulação e pela inexistência de cadeias produtivas solidárias,
capazes de estender-se e romper o isolamento dos empreendimentos, algo
ainda distante da realidade.
Afora esses nós górdios, os percentuais de EES que atendem aos demais
indicadores são mais altos, entre 9% e 44%. Ademais, como vimos, poucos
EES situam‑se abaixo dos patamares mínimos. Deduz-se então que a maior
parte dos empreendimentos apresenta um perfil de empreendedorismo e
de solidarismo aquém de um alto desempenho. Eles não estão colados aos
patamares mínimos, mas tampouco concentrados no topo. Sua maioria nem
apresenta características sistematicamente negativas, contrárias ao empreendedorismo
solidário, nem se destaca por propriedades altamente desenvolvidas.
À luz do nosso instrumento de análise, eles estão acima do ponto
, as fraquezas situam-se no investimento em formação dedebilidades estruturais que perduram, afetando o seu reconhecimentosolidarismo, os pontos frágeisrelacionamentos externos, impostos pela fragilidade das iniciativascrítico
esse dois níveis, com práticas variáveis, em geral limitadas, mas efetivas de
economia solidária.
e abaixo do ponto ótimo: distribuem-se pelo gradiente existente entreOs compassos da nova racionalidade
A hipótese de uma nova racionalidade implica ainda que as práticas determinadas
por fins sociais e por fins econômicos evoluam complementarmente.
Para verificá-lo, através do método empregado até aqui, deve-se
analisar os coeficientes de forma
nos indicadores de alto empreendedorismo e de alto solidarismo estão
correlacionadas. Assim, podem-se avaliar as correlações entre as práticas e
características de solidarismo interno e externo dos EES e aquelas de eficiência
e viabilidade econômica.
A pontuação total dos EES nos dois coeficientes reflete globalmente as
situações já evidenciadas em cada um deles. A grande maioria apresenta
pontuação modesta e apenas 8% dos EES satisfazem mais de 5 indicadores.
integrada e examinar se as variações observadasA outra racionalidade da economia solidária |
69Entre os EES com escore entre 1 a 3 indicadores, não se pode afimar que
a concomitância entre as pontuações no alto solidarismo e no alto empreendedorismo
seja regra, pois um caso poder ocorrer sem o outro. Em contrapartida,
os dados sugerem que o conjunto de EES obedece a uma relação
positiva entre maior solidarismo e maior empreendedorismo: a cada grau
de empreendedorismo corresponde um grau proporcionalmente maior de
solidarismo. Os casos de desenvolvimento unilateral seriam minoritários.
O fato converge com estudos qualitativos segundo os quais o desenvolvimento
da dimensão empreendedora não inibe forçosamente a autogestão
e o engajamento social dessas organizações, mas é suscetível de estimulá-los
ou mesmo pressupô-los (Gaiger, 2006).
Podemos indagar se essa correspondência geral decorre de alguma situação
específica, isto é, se alguns indicadores, num coeficiente, exercem uma
força de indução sobre indicadores do outro coeficiente. O atendimento
aos primeiros representaria uma condição favorável ao atendimento dos
segundos, sinalizando então que a dimensão empreendedora e a dimensão
solidária encontram-se ali fortemente integradas. As práticas correspondentes
a tais indicadores funcionariam como nódulos de
solidarismo e empreendedorismo, cerne da racionalidade em exame.
Uma técnica estatística apropriada a essa questão é
que consiste em mensurar as correlações simultâneas entre todos
os indicadores, verificando quais tendem a andar juntos, a se repelirem ou
a manterem-se neutros, sem relações significativas. Os resultados de sua
aplicação ao nosso estudo mostram que as atrações mais importantes ocorrem
sempre entre os indicadores da mesma dimensão: práticas ou características
de alto solidarismo, por exemplo, relacionam-se mais fortemente
entre si do que com as práticas ou características de empreendedorismo.
entrelaçamento entreanálise de correspondências,13Ainda assim, a análise mostra que certas práticas de empreendedorismo se
fazem acompanhar de bons indicadores de solidarismo, evidenciando a
presença de uma dinâmica ao mesmo tempo econômica, social e política:
de um lado, no campo do fortalecimento econômico interno dos empreendimentos,
através do desenvolvimento da capacidade de contração de crédito
e de investimento, conjugado a seu fortalecimento externo via inserção
em redes de comercialização solidária; de outro lado, no campo da observância
dos direitos sociais do trabalho e de medidas de preservação ambiental,
fatores de coesão interna e alinhados ao desenvolvimento sustentável.
13
genérica, para a maioria dos EES. Isto é compreensível, por conta da diversidade da economia
solidária.
É possível que existam elos consideráveis vinculando os dois aspectos, porém não de forma70
| Luiz Inácio GaigerQuando se considera a estrutura dos indicadores de cada coeficiente,
os resultados são interessantes. As práticas de alto empreendedorismo
aparecem divididas em dois blocos, evidenciando que os EES de maior
pontuação apresentam matizes diferenciados. De um lado, aqueles que
adquirem as condições econômicas e optam por manter um quadro regular
de trabalhadores, concedendo-lhes direitos sociais e investindo na
sua formação e qualificação. De outro lado, os EES que apresentam estratégias
direcionadas à comercialização, acesso creditício ou recursos para
investimentos, além de auto‑suficiencia econômica e financeira. Tais situações
não são excludentes, mas constituem dois perfis relativamente independentes.
Os indicadores de alto solidarismo apresentam igualmente dois tipos de
correlação mais fortes: em primeiro lugar, entre as práticas de participação
e de transparência administrativa, vértices da gestão democrática. Em
segundo lugar, entre a inserção em ações comunitárias ou movimentos
sociais e os cuidados com a preservação ambiental, a denotarem envolvimento
com os problemas da sociedade. Esses aspectos relacionam‑se secundariamente
a outras práticas mais específicas, como a comercialização
solidária e a participação cotidiana dos sócios na gestão do empreendimento,
aparecendo ainda, favoravelmente, situações de coletivização do
trabalho ou da produção. Existiria assim uma correlação entre solidarismo
interno e externo.
Ao estudar mais amiúde os indicadores, por meio de sua inclusão judiciosa
em testes sucessivos de correspondências, discernem-se as vias de
convergência que progressivamente se estabelecem entre as práticas em
questão. A partir da conquista de um patamar de
EES lançam-se no papel de
engajamento comunitário e práticas de articulação política e econômica
gestão democrática, osatores sociais da economia solidária, medianteou
do trabalho
dos recursos humanos. Esses caminhos mostram-se relativamente
independentes dos avanços propriamente econômicos, como acesso a crédito,
capacidade de investimento, facilidades de comercialização e penetração
ampla no mercado. Ou seja, um alto desempenho econômico pode
ser alcançado por EES situados em quaisquer das estratégias de desenvolvimento
acima apontadas, de modo que as mesmas devem-se não a imposições
da realidade econômica em si, mas a fatores singulares que afetam os
diferentes EES em seu processo histórico. Pode-se dizer que representam
uma questão
e por seu projeto.
, numa segunda via, investem prioritariamente em políticas de valorização, mediante remuneração regular, benefícios sociais e formaçãopolítica para os EES, de escolhas orientadas por sua identidadeA outra racionalidade da economia solidária |
71Outra racionalidade faz diferença?
No âmbito dessa análise geral dos dados, importa explorar uma derradeira
linha de questionamento, atinente às características
melhor desempenho empreendedor e solidário, do ponto de vista da gênese
dos mesmos, do seu desenvolvimento posterior e dos seus resultados.
Empreendimentos antigos, escolados por anos de dura concorrência no
mercado, refluem em suas práticas solidárias ou as mantêm? O que sucede
com os empreendimentos de grande porte, cujo elevado quadro de sócios
acarreta empecilhos à democracia direta? À luz dos indicadores, aqueles
EES de maior solidez econômica, com volumes de produção consideráveis,
sacrificam os seus aspectos sociais e tendem a adotar uma lógica empreendedora
convencional? As respostas a tais perguntas deixarão mais claro se
a presença da nova racionalidade, mesmo sendo parcial e sujeita a contradições
e reveses, é apenas um aspecto singularizante dessas iniciativas ou constitui
um dos seus pilares estruturantes, exercendo um papel fundamental.
A tabela abaixo elucida um primeiro aspecto, relativo aos motivos principais
da criação dos EES.
típicas dos EES com14 A justificativa mais usualmente declarada, debusca de alternativa ao desemprego
fica abaixo da média (última linha), o que respalda a idéia de que
não bastam fatores externos de
que o resultado seja mais uma boa iniciativa de economia solidária (Gaiger,
2004c). Na mesma posição ficam os EES cuja finalidade inicial tinha um
cunho pragmático (
ampla (
campo econômico. Com índices acima da média, ganham destaque os EES
formados com o objetivo deliberado de socializar a atividade econômica
(
é o mais elevado, e os casos de luta coletiva pela reconversão de
empresas privadas em falência, nos quais o coeficiente de alto empreendedorismo
é quase três vezes superior à média. Seja por uma opção refletida
ou pela força imperiosa das circunstâncias, a motivação inicial faz diferença
justamente quando comporta a dupla dimensão, social e econômica, do
empreendimento a ser criado. Provavelmente por isso, entre os EES com
maior pontuação, os coeficientes de empreendedorismo e de solidarismo
tendem a evoluir lado a lado, como vimos antes.
(31%),15 refere-se aos EES cujo desempenhopressão negativa sobre os trabalhadores paraacesso a financiamentos e apoios) ou refletiam uma dinâmicadesenvolvimento comunitário), talvez sem objetivos claros nodesenvolver atividade onde todos são donos), cujo coeficiente de alto solidarismo14
e solidarismo, não existem variações expressivas em números absolutos, sendo de considerar
as diferenças relativas nas pontuações médias dos subconjuntos de EES delimitados pelos
critérios em análise.
Como a pontuação da totalidade dos EES mapeados é baixa nos indicadores de alto empreendedorismo15
A questão era de respostas múltiplas, contabilizando-se aqui o motivo declarado como principal.72
| Luiz Inácio GaigerTabela 1 – Desempenho médio dos EES segundo o motivo principal de sua criação
Motivo declarado de criação
do empreendimento
Coeficiente de
alto empreendedorismo
Coeficiente
de alto
solidarismo
Coeficiente
integrado
Uma alternativa ao desemprego 0,7505 1,8750 2,6316
Obter maiores ganhos em um empreendimento
associativo
0,8013 2,0039 2,8067
Uma fonte complementar de renda
para os associados
0,8057 2,0953 2,9073
Desenvolver uma atividade onde todos
são donos
0,8582
2,4166 3,2788Condição exigida para ter acesso a
financiamentos e outros apoios
0,5623 1,9692 2,5350
Recuperação por trabalhadores de
empresa em falência
2,1111 2,3857 4,5143Motivação social, filantrópica ou religiosa
0,7974 1,9934 2,7881
Desenvolvimento comunitário de capacidades
e potencialidades
0,7356 1,7864 2,5194
Alternativa organizativa e de qualificação
0,7271 2,1945 2,9291
Médias gerais dos EES
0,7531 2,0024 2,7595Quando submetidos à prova do tempo, os EES que sobreviveram até o
Mapeamento não parecem descaracterizar-se: aqueles cuja fundação ocorreu
antes de 1980 exibem o melhor desempenho global, com um bom índice
de alto solidarismo e o maior índice de alto empreendedorismo. No outro
extremo, os EES fundados há menos de uma década, entre eles os mais
recentes e compreensivelmente mais frágeis, apresentam os níveis de alto
empreendedorismo mais modestos, mas também índices de alto solidarismo
tendencialmente abaixo da média. O melhor perfil nesse quesito corresponde
aos EES ao redor de 15 anos de funcionamento. Por razões melhor
esclarecidas adiante, o tempo parece fazer bem aos empreendimentos: preserva
aqueles dotados de estratégias eficientes de sustentação econômica e,
A outra racionalidade da economia solidária |
73ao mesmo tempo, seleciona as iniciativas com melhores práticas de participação
e autogestão. Nos detalhes, nota-se que os EES submetidos à redução
no número de sócios também apresentam um desempenho menor que os
demais, depreendendo-se daí que os eventos de adesão e de evasão de
trabalhadores não estão descolados das possibilidades que possuem estas
organizações de conciliarem suas exigências econômicas e sociais.
A longevidade dos EES até certo ponto está ligada à sua forma de organização.
Na maior parte dos casos, eles nascem como grupos informais e
muitas vezes, quando mais estruturados, registram-se posteriormente como
associações ou cooperativas. Assim, as cooperativas são mais antigas que as
associações ou os grupos informais e correspondem geralmente a iniciativas
com um potencial mais consolidado. Tendo-se em vista as exigências contidas
na transição para o formato cooperativo, quanto a regras formais de
gestão e aos demais requerimentos institucionais, entende-se por que as
cooperativas apresentam índices bastante superiores aos demais EES,
enquanto os grupos informais ficam em último lugar nesse comparativo,
com deficiências visíveis no campo do solidarismo.
Além disso, as cooperativas em geral são empreendimentos maiores.
Desse ponto de vista, os dados não deixam dúvidas: quanto maior o quadro
de sócios, melhor o desempenho dos EES, com ênfase para a faixa
superior a 50 membros, em ambos os coeficientes. As deficiências dos
pequenos grupos informais aparecem agora por outro prisma: segundo os
indicadores, EES com até 10 integrantes são em média
menos solidáriosque os de médio e grande porte. Não obstante as dificuldades inerentes à
condução de organizações autogestionárias de porte, a economia solidária
não se revela aqui uma alternativa típica ou cativa de pequenos empreendimentos,
aos quais não daria chances de crescer. Pelo contrário, os EES
que admitiram novos sócios no período anterior ao Mapeamento exibem
índices de desempenho superiores àqueles com quadro estável ou com
perda de membros.
Os dados sobre as diferenças causadas pelo predomínio de homens ou
de mulheres no quadro social são dignos de interesse para análises específicas
na perspectiva de gênero. Entre os EES de maior porte, aqueles com
elevado número de homens sócios apresentam um desempenho global superior,
em particular no coeficiente de empreendedorismo. Essa tendência
contudo é mais acentuada entre os EES maiores com elevado número de
mulheres sócias. Ademais, nesse caso há um equilíbrio entre os dois coeficientes,
o que dá guarida a muitos estudos atuais sobre a presença das mulheres
na economia solidária e suas consequências positivas para as mulheres
e para a economia (Guérin, 2003).
74
| Luiz Inácio GaigerA vantagem dos EES com maior estrutura estende-se ao volume das
atividades econômicas. Os índices de desempenho empreendedor e solidário
são nitidamente superiores nos EES que se destacam por cifras econômicas
elevadas, nos quesitos de produção, crédito, investimento e remuneração
dos sócios trabalhadores. Por seu turno, os EES com valor da
produção não declarado, sem acesso a crédito, sem investimentos e com
faixas de remuneração reduzidas apresentam os menores quocientes de alto
empreendedorismo e alto solidarismo. Salvo exceções, o índice de alto solidarismo
sempre acompanha o incremento da atividade econômica, constatação
fundamental para nossa análise. O escore dos EES no coeficiente
integrado de empreendedorismo e solidarismo cresce, pela ordem, com os
níveis de faturamento, investimento, crédito e remuneração. Reaparece o
vínculo positivo entre participação e rendimento econômico (Jones, 1978).
É ainda pertinente dimensionar o impacto das ações externas de apoio
aos empreendimentos, por ser essa uma característica marcante da economia
solidária. Um primeiro dado revela que os EES declarantes de apoios recebidos,
sob forma de assessoria, assistência ou capacitação, apresentam índices
superiores aos não declarantes, exceto os casos de apoio de órgãos
governamentais. Assim, os apoios externos, se nem sempre muito ajudam,
tampouco mostram-se inúteis ou prejudiciais. Percebe-se que as formas a
princípio mais convencionais e padronizadas de apoio, ou voltadas a um
objetivo momentâneo, não surtem maiores efeitos. Já as ações continuadas
e as assessorias que incidem sobre gargalos conhecidos dos empreendimentos,
como os aspectos jurídicos ou ligados à comercialização, produzem os
melhores resultados. Quanto à origem dos apoios, o diferencial positivo é
causado, de maior a menor, por cooperativas de técnicos, instâncias do
movimento sindical, universidades e entidades civis. O conhecimento
técnico
parece assim ter vigor apenas quando associado à cultura cooperativa
e ao ambiente social e político da economia solidária.
16Considerações finais
Da análise anterior conclui-se que os fatores a impulsionar os EES não são
circunstanciais ou aleatórios, pois se ligam à trajetória dessas experiências,
não à contra‑corrente de suas práticas empreendedoras e solidárias, mas
justamente por serem as mesmas exercidas. Em outros termos, tais práticas,
cujas conexões sustentam a tese de uma racionalidade peculiar dessas orga-
16
conhecimentos técnicos necessários, com a incorporação de profissionais especializados ao seu
quadro de funcionários.
Dados complementares indicam ainda uma vantagem dos EES que resolvem internalizar osA outra racionalidade da economia solidária |
75nizações, são-lhes estruturantes. O efeito apreciável provocado por situações
à primeira vista sem maiores conseqüências, como o predomínio das mulheres
no quadro social, avaliza a idéia de que se conduzir segundo as pautas
de
da maior parte dos apoios externos recebidos pelos EES, expressando o
interesse e o amparo da sociedade para com a economia solidária, justificam
que ela seja entendida como um campo próprio, a merecer novas regulações
em prol do
Uma compreensão mais profunda das atuais iniciativas de economia solidária,
a partir das aquisições iniciais proporcionadas por esse estudo da
racionalidade dos empreendimentos
segmentos da economia solidária isto é, os subconjuntos de experiências
que partilham uma história comum e possuem uma morfologia similar, a
exemplo das associações de produtores familiares, das cooperativas industriais
ou das unidades coletivas de reciclagem. Cada segmento pode ter seu
desempenho solidário e empreendedor apurado e comparado com os índices
gerais, o que destacaria suas singularidades e as elucidaria melhor. Outra
possibilidade, de acordo com o método aqui empregado, consistiria em
comparar os EES que apresentam um perfil solidário e empreendedor semelhante,
a despeito de sua heterogeneidade morfológica, o que permitiria
cruzar tipologias de desempenho qualitativo dos empreendimentos com
tipologias de conteúdo histórico-social.
As vias de evolução da economia solidária em nada se parecem a um
caminho conhecido e seguro. A razão pragmática com certeza não serviria
para escrutinar a realidade presente e admitir, nas possibilidades nela contidas,
desenlaces emancipatórios. No entanto, “muito provavelmente será
a capacidade de ir inscrevendo o futuro nas vivências do presente que mais
efectivamente nos pode aproximar dele” (Namorado, 2005: 19). Para os
trabalhadores da economia solidária, os seus empreendimentos representam
desafios incomuns, mas não utópicos, pois são hoje a realidade que experimentam
e vivem com esperança (Santos, 1999), convertendo essa práxis
em seu regime de verdade. Nossos esforços de compreensão não deveriam
perder de vista que o sentido da economia solidária, em sua instância primordial,
depende do que representar para a vida dos trabalhadores, diante
das demais alternativas de trabalho, renda e inserção social a seu dispor,
considerando-se suas aspirações a uma vida com valor e dignidade. Reside,
ademais, nos novos protagonismos que essas iniciativas ensejam, na esfera
econômica e nos espaços públicos, em cujos embates forjam-se repetidamente,
desde as lutas democráticas dos anos 80 no Brasil, os atores populares
da cidadania.
outra economia faz uma considerável diferença. Já os reflexos positivosato associativo.em geral, requer adentrar os diversos76
| Luiz Inácio GaigerReferências bibliográficas
Abramovay, Ricardo (org.) (2004),
Annablume.
Cattani, Antônio (org.) (2004),
Leite).
Coraggio, José (1999),
y Dávila Editores.
Coraggio, José (org.) (2007),
Buenos Aires: UNGS-Altamira.
Defourny, Jacques (1988), “Coopératives de production et entreprises autogérées: une
synthèse du débat sur les effets économiques de la participation”,
61(16), 139-53.
França Filho, Genauto
perspectiva internacional
Gaiger, Luiz (2004a), “Eficiencia sistémica”,
Buenos Aires: Altamira, 213-220.
Gaiger, Luiz (2004b), “Emprendimientos económicos solidários”,
(org.),
Gaiger, Luiz (org.) (2004c),
Alegre: UFRGS.
Gaiger, Luiz (2006), “A racionalidade dos formatos produtivos autogestionários”,
Sociedade e Estado
Gaiger, Luiz (2007), “Nouvelles formes de production non capitaliste au Brésil”,
Tiers Monde
Guérin, Isabelle (2003),
Jones, Derek (1978), “Les coopératives de producteurs dans les économies occidentales
industrialisées: un aperçu général”,
66(2), 109-124.
Laville, Jean-Louis (org.) (2004),
Aires: Altamira (trad. Mirta Vuotto).
Lévesque, Benoît
de Brouwer.
Mendell, Marguerite (2003), “La aparición de movimientos sociales internacionales y
la economía social y solidaria”,
Laços financeiros na luta contra a pobreza. São Paulo:La otra economía. Buenos Aires: Altamira (trad. LucimeirePolítica social y economía del trabajo. Buenos Aires/Madrid: MiñoLa economía social desde la periferia. Contribuciones latinoamericanas.Mondes en Développement,et al. (orgs.) (2006), Ação pública e economia solidária. Uma. Porto Alegre: UFRGS.in Antônio Cattani (org.), La otra economía.in Antônio CattaniLa otra economía. Buenos Aires: Altamira, 229-241.Sentidos e experiências da economia solidária no Brasil. PortoRevista, 21(2), 513-44.Revue, 190, 309-324.Femmes et économie solidaire. Paris: La Découverte.Annales de l’économie publique, sociale et coopérative,Economia social y solidaria. Una visión europea. Buenoset al. (orgs.) (2001), La nouvelle sociologie économique. Paris: DescléeÉconomie et Solidarités – Revue du CIRIEC/Canadá[n.º especial], 19-29.
Namorado, Rui (2005), “Cooperativismo – um horizonte possível”,
229.
Novaes, Henrique (2005), “Quando os patrões destroem máquinas. O debate em torno
das forças produtivas em fábricas recuperadas argentinas e uruguaias”,
Sociais Unisinos
Oficina do CES,Revista Ciências, (41)2, 100-110.A outra racionalidade da economia solidária |
77Razeto, Luis (1993), “Economia de solidariedade e organização popular”,
Gadotti; Francisco Gutiérrez (orgs.),
Paulo: Cortez, 34-58.
Santos, Boaventura de Sousa (1999), “Porque é tão difícil construir uma teoria crítica?”,
in MoacirEducação comunitária e economia popular. SãoRevista Crítica de Ciências Sociais
Santos, Boaventura de Sousa (org.) (2002),
não capitalista
Singer, Paul (1999), , 54, 197-215.Produzir para viver. Os caminhos da produção. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.Uma utopia militante. Petrópolis: Vozes.
Assinar:
Postagens (Atom)